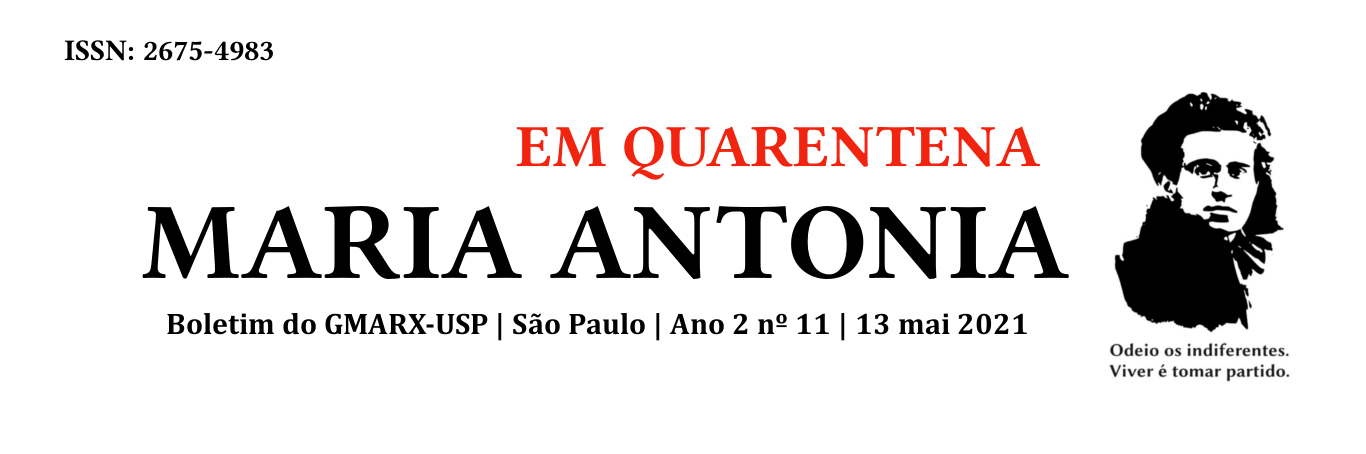
Mundo acadêmico ...
LIBERALISMO, PÓS-MODERNIDADE E DESINFORMAÇÃO
Adriano Duarte
Professor de história do Brasil e história contemporânea - UFSC
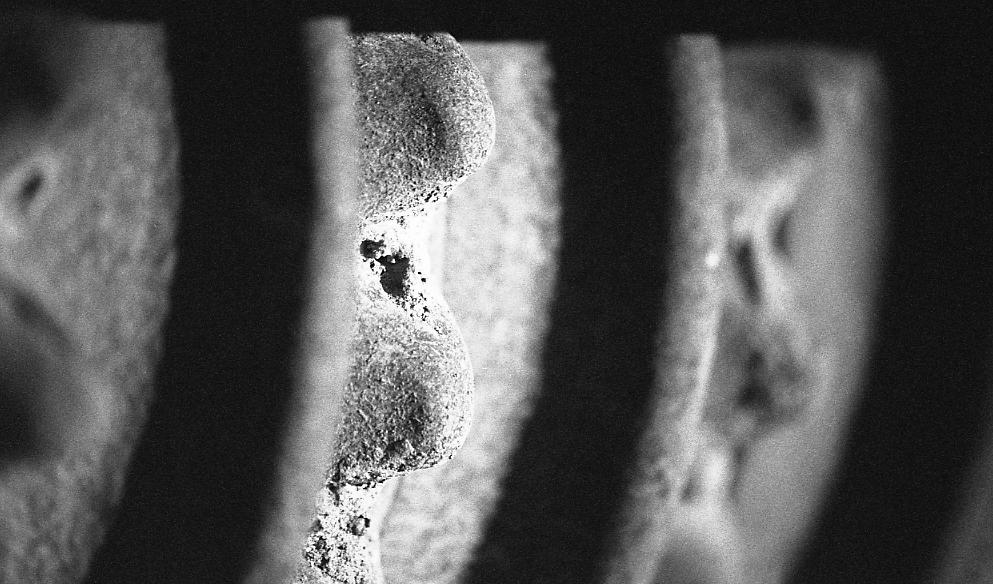
Somos solo engranajes para el neoliberalismo, por Alvaro Herreras
I
Os trinta e cinco anos após o fim da Segunda Guerra Mundial foram chamados de “os anos dourados”, seja pelo rápido e contínuo crescimento do capitalismo, seja pela relativa estabilidade social e política, seja pela construção dos estados de bem-estar social no norte da Europa. Mesmo enfrentando guerras localizadas e a Guerra Fria como um fenômeno global, esses anos foram de relativo otimismo: o terceiro mundismo e os processos de descolonização na África e na Ásia fortaleceram a expansão dos valores democráticos. Entretanto, no final da década de 1960, a confluência entre uma crise econômica, representada pela estagnação econômica com inflação e pela queda das taxas de lucro; uma crise política, expressa pela emergência de movimentos de massa fora do âmbito dos tradicionais partidos comunistas; uma crise social, dimensionada pela fragmentação dos movimentos contestatórios e a consequente fragilização da centralidade da classe social como locus referencial dos movimentos coletivos de contestação, colocou um ponto final nos anos de crescimento e na relativa estabilidade do capitalismo. Se há controvérsias sobre a origem e os componentes fundamentais da crise, parece haver consenso sobre suas implicações. No curto prazo, ela trouxe uma consequência com a qual ainda hoje temos que lidar: a força avassaladora da ideia de que apenas a empresa privada e a lógica irrestrita dos mercados capitalistas seriam capazes de recuperar a economia. Entretanto, o potencial regenerador da liberdade total dos mercados e da liberdade de ação das empresas privadas supunham a contenção dos movimentos contestatórios.
Assim, abria-se um novo estágio do capitalismo: o neoliberalismo, uma estratégia global de superação das crises dos anos 1970 que acarretava, por um lado, revigorar a confiança militante da burguesia, abrindo-lhe as portas para que, como classe, retomasse as rédeas da ação pública, temporariamente limitada, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por outro, levava à ideia de expandir a lógica do mercado, sem regras e limites, implicando o esgarçamento do Estado de Bem-Estar Social, colocando em xeque o pressuposto de que cabia ao Estado reparar e corrigir as desigualdades produzidas pelo mercado capitalista. Juntos, esses dois princípios solaparam as bases de uma alternativa igualitária como um bem comum coletivo.1
Na década de 1980, com as eleições de Margareth Thatcher e de Ronald Reagan, esse novo estágio do capitalismo havia triunfado. No fim dessa década, a queda do muro de Berlim, em 1989, foi apenas o símbolo do vigor desse triunfo. As utopias igualitárias recuaram em todo o mundo e, junto com elas, as ideias de justiça social, equidade, solidariedade passaram a ocupar espaços cada vez mais exíguos no debate público. Em seu lugar, se consolidaram novos consensos, expressos numa nova linguagem: controle fiscal, meritocracia, finanças, mercado, mercado e mercado. Parecia não haver outra alternativa. E, num certo sentido, ainda estamos mergulhados e atados a esse abismo.
Não parece haver dúvida de que se trata de um conflito de classe: sentindo-se ameaçados pelo crescente poder de barganha da classe trabalhadora, os defensores do mercado capitalista lançaram uma contraofensiva, o neoliberalismo, cujo objetivo era dizimar os instrumentos dessa negociação:
"A classe capitalista sentiu realmente medo e se perguntou o que fazer. Ela não era onisciente, mas sabia que havia certo número de frentes sobre as quais ela deveria lutar: o projeto ideológico, o front político e, acima de tudo, a necessidade de reduzir em todos os meios possíveis o poder da classe operária. É a partir disso que emerge o projeto político que eu chamaria de neoliberalismo."2
Como neutralizar a força dos sindicatos, como tornar irrelevantes os partidos de esquerda, como conter os movimentos sociais e suas bandeiras igualitárias? Em primeiro lugar, diminuindo os custos da força de trabalho para estimular a competição nos mercados globais, através da exortação de capitais para onde os custos da força de trabalho fossem menores. Mas para que isso fosse exequível era fundamental combater as inúmeras barreiras nacionais para a livre circulação de capitais e mercadorias pelo mundo. Era imperioso, também, fazer com que os mercados de trabalho fossem desregulamentados e, principalmente, que os Estados reduzissem sua intervenção na economia. Novas tecnologias (robótica, telefonia móvel, computação) surgiram para atender a essas novas demandas de um capitalismo global e sem limites; áreas até então relativamente distantes da lógica do mercado foram capturadas pela nova expansão (água, moradia, educação, parques, saneamento, presídios, estradas, aeroportos foram privatizados).
Isso desencadeou uma série de transformações interligadas: privatizações de empresas estatais, desregulamentação dos mercados de trabalho e das leis de proteção ao trabalhador, globalização dos capitais e das mercadorias circulando em velocidade cada vez maior e sem barreiras, diminuição das tarifas protecionistas. Incrementado pelas novas tecnologias da automatização e da robótica, o desemprego aumentou em todos os países e em todos os setores; a desindustrialização de tradicionais áreas fabris e a consequente industrialização de outras, em geral em países onde a mão-de-obra é muito barata, se tornaram a regra de ouro do novo sistema de acumulação. Sem emprego, sem redes de proteção, sem serviços de saúde, sem construção de novas moradias a preços acessíveis, passa a vigorar, em todos os setores da vida humana, a lógica mais selvagem do “salve-se quem puder”, entendido aqui como: aquele que tiver mais dinheiro. Os sindicatos perdem relevância, os partidos políticos e a política, como atividade humana, perdem força, sendo continuamente desqualificadas e as estratégias coletivas e solidárias de apoio e sobrevivência mútua recuam.
Nesse contexto, sugeriu-se que a história havia chegado ao fim, que o modo-de-vida-americano-liberal havia vencido.3 Não haveria mais alternativa, não haveria, portanto, necessidade de debate. A ênfase no individualismo, na atomização, desbancou o princípio histórico da solidariedade da tradição socialista e igualitária. Muitos partidos políticos de esquerda, desnorteados, aderiram em maior ou menor grau a esse pacote de mudanças. A perda das referências comuns produziu ainda um efeito devastador: enfraqueceu a ideia de que a luta de classes era o motor da história. A noção de classe, de luta de classes, perdeu centralidade e, mesmo no vocabulário corrente, foi deslocada por outros tipos de conflito (nacionais, religiosos, raciais, sexuais, de gênero), que passaram ao proscênio.
O paradoxo é que quanto mais a luta de classes se tornava crucial na consolidação, tanto do neoliberalismo quanto da globalização, menos se falava em classe e ainda menos em luta. Desapareceu também qualquer referência à noção de totalidade como eixo para a compreensão dos fenômenos que pareciam como pulverizados. Assim, a fragmentação e a desconexão passaram a ser percebidas como a própria realidade do mundo. Qualquer representação totalizante mostrava-se como ilusória e, mais do que isso, autoritária, porque sempre tenderia a privilegiar uma parte em detrimento de outra. Em suma, não parecia mais fazer sentido o engajamento em nenhum projeto global de transformação da sociedade, “o pragmatismo se torna(va) a única filosofia da ação possível”4.
Por qualquer ângulo que se olhe, a vitória da burguesia e de seu projeto foi acachapante e a classe trabalhadora sofreu uma derrota da qual ainda não se recuperou. Doravante, seria “mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.”5 (JAMESON, 2003, s.p.) Essa frase expressa de forma desconcertante o fracasso do futuro, o fim das utopias e o eterno presente, elemento central da lógica cultural, que ordena esse novo regime de produção: o pós-modernismo.
O que essa lógica parece ter produzido foi a justificação do deslocamento da luta política e da ação política das condições concretas da vida para o uso da língua e seus jogos de linguagem. É bem possível supor que esse deslocamento expresse, em certo sentido, uma fuga da realidade; afinal, se não podemos mudar o mundo, podemos, ao menos, transformar completamente o modo como falamos sobre ele. Preservam-se a ilusão da ação e o espírito de rebeldia transformadora, porque se desloca o insuportável fracasso de se opor à opressão de uma sociedade profundamente desigual, para a encantadora sensação de expansão dada pela mobilidade da linguagem. Nesse contexto, como se pode produzir alguma leitura coerente do mundo e de suas transformações?
II
Sabemos que, quando o modo de produzir e distribuir as mercadorias se transforma, é todo um modo de vida que se modifica. Já se sugeriu que a predominância do sistema fordista de organização industrial havia exigido dos trabalhadores uma remodelação de todos os aspectos de sua vida, no sentido da criação de um novo tipo humano, adequado a essa forma específica de produção. Essas novas características — de maior racionalização da vida e da interiorização da coerção moral a um maior controle dos instintos sexuais — não eram nada espontâneas. Ao contrário, elas exigiam uma nova mentalidade social, estreitamente ligada à base material da sociedade, implicando também uma nova relação com a moradia, com a alimentação, com os costumes, com a moral, com a cultura:
"...um processo ininterrupto, frequentemente doloroso e sangrento, de sujeição dos instintos (naturais, isto é, animalescos e primitivos) a normas e hábitos de ordem, de exatidão, de precisão sempre novos, mais complexos e rígidos, que tornam possíveis as formas cada vez mais complexas de vida coletiva, que são a consequência necessária do desenvolvimento do industrialismo." 6
Ou seja, não há um regime de acumulação que se separe de um modo específico e correspondente de pensar e viver a vida. A superação da crise em que o capitalismo mergulhou, nos anos 1970, foi encontrada na estruturação de um novo modelo de acumulação, o Toyotismo: um sistema de organização industrial desenvolvido nos anos de 1940 no Japão, o sistema consiste, basicamente, na produção por demanda, ou just in time (sem estoques); numa maior flexibilidade (sobretudo nas formas de contratação: temporários, subcontratação, expansão dos autônomos etc.); na multifuncionalidade dos trabalhadores (cada trabalhador deve ser capaz de desempenhar várias tarefas: flexibilidade, nomadismo e espontaneidade passam a ser características não apenas da produção, mas em toda a sociedade) e no uso intenso de novas tecnologias (computadores, robôs, telefonia móvel etc.)7. Esse novo regime de acumulação só se disseminou com a desregulamentação dos mercados de trabalho, com a suspensão dos controles do sistema bancário, com a redução da intervenção do Estado como fator de combate às desigualdades sociais e com a suspensão das barreiras nacionais para a circulação de capitais e mercadorias.
A esse sistema produtivo flexível e descentrado corresponde um novo modo de pensar e viver a vida, ela também mais flexível (fluxo, movimento, parecem ser as referências centrais dessa nova configuração: das relações pessoais às formas de trabalho), uma dependência avassaladora das novas formas tecnológicas (na vida social, na família, no trabalho), uma preponderância da cultura da imagem e do simulacro, também sempre em fluxo (uma recusa de um modo de pensar que integra contradições e antagonismos), um novo tipo de matriz emocional básica (ao mesmo tempo muito intensa e muito superficial, enquanto os contatos entre os indivíduos são cada vez mais escassos), uma série de mutações na experiência vivida, no espaço das construções (polissemia e pastiche), um novo significado atribuído à política (em que se rejeita a contradição dialética entre essência e aparência), uma acentuada ausência de profundidade em aspectos da teoria contemporânea (uma crítica da ideia de que seja possível alcançar a verdade acerca dos fenômenos sociais), o enfraquecimento da historicidade (não há nenhum interesse pelo futuro, porque também não há nenhum interesse pelo passado, o que importa é apenas, e tão somente, o presente)8. Esse eterno presente exprime uma profunda desvalorização do passado e uma incapacidade de pensar o futuro, tornando impossível imaginar outros modos de vida alternativos. Nesse quadro a nostalgia torna-se apenas mais uma mercadoria.
"Por todas essas razões, a desvalorização do passado tornou-se um dos sintomas mais importantes da crise cultural (...) uma negação do passado, superficialmente progressista e otimista, mostra a uma análise cuidadosa, o desprezo de uma sociedade que não consegue enfrentar o futuro."9
Esse conjunto de elementos nos leva a um componente fundamental que enfeixa essas transformações: o relativismo. Se, por um lado, ele permite perceber a diversidade humana sem um referencial definidor; por outro, ele abre para uma concepção na qual, não existindo referências universais, as únicas verdades a se considerar são as percepções moldadas pelas forças sociais e grupais. Se não há referentes universais (como classe e consciência de classe, por exemplo), se não há verdades irrefutáveis (evolucionismo, aquecimento global, por exemplo), ficamos dependentes, fundamentalmente, do ponto de vista (do lugar de fala?) do emissor da proposição. Mais do que a verdade, o que importa é a performance: a capacidade de argumentar e convencer torna-se mais decisiva do que a força ou a veracidade dos argumentos. Dito de outro modo, “toda opinião sobre qualquer coisa é tão boa quanto as outras” (NICHOLS, 2017, p. 20). Não é difícil perceber a conexão entre os desdobramentos do relativismo e o narcisismo da sociedade do espetáculo em que estamos inseridos, na qual importa mais parecer do que ter ou ser; afinal é daí que se tira todo prestígio social. “O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem” (DEBORD, 1998, p. 25).
O que perdeu importância, centralidade e significado foi a imaginação utópica, a ideia simples de que outro mundo era possível, de que havia a possibilidade de um projeto coletivo de justiça social e igualdade. O radicalismo deixou de acreditar em si próprio. Já se sugeriu que o relativismo e suas consequências nefastas fizeram um percurso sinuoso, mas abarcaram tanto a esquerda quanto a direita. Nos anos 1960, como um desdobramento inesperado da contracultura, produziu-se uma rejeição dos ideais do Iluminismo, como sendo os vestígios não desejados de um pensamento imperialista e patriarcal. Para substituí-lo, despontavam a valorização das culturas locais, das tradições ancestrais, dos saberes populares. “O comprometimento foi considerado mais importante que a ciência, e a paixão mais importante do que a razão”10.
Essas transformações, contraditoriamente, pavimentaram o caminho para que, no final da década de 1980, com a vitória do neoliberalismo e da globalização, as noções de progresso e de razão passassem a ser atacadas como expressão do elitismo e de uma forma de pensar que solapava a vida tradicional (as relações face a face em um mundo de dimensões mais humanas). Nesse deslocamento, o que nem sempre fica evidente é que o impulso estruturante desse modo de pensar foi apropriado pela expansão sem limites e sem controle da lógica da mercadoria para todos os aspectos da vida humana, com a consequente proliferação das desigualdades que a ela correspondem. À esquerda, esse movimento recebeu o nome de multiculturalismo. Se, por um lado, ele oferecia um antídoto ao triunfalismo do progresso sobre a tradição, do ocidente sobre o oriente, dos homens sobre as mulheres, dos brancos sobre os negros, dos nativos sobre os imigrantes etc., por outro, podia levar também ao descrédito o conhecimento e a razão como meras construções ideológicas, dando lugar, de modo paradoxal, aos saberes locais, às identidades grupais. O multiculturalismo é, num certo sentido, “o indicador do esgotamento das utopias”, o corolário das inovações políticas, sociais e econômicas da década de 1970
"O multiculturalismo também preenche um enorme vazio intelectual. Privados de um idioma radical, destituídos de uma esperança utópica, os liberais e esquerdistas recuam em nome do progresso para celebrar a diversidade. Com poucas ideias sobre a maneira como deveria ser moldado o futuro, abraçam todas as ideias. O pluralismo transformou-se na tábua de salvação, no alfa e no ômega do pensamento político. (...) o multiculturalismo tornou-se o ópio dos intelectuais desiludidos, a ideologia de uma era sem ideologia."11
Não se deve perder de vista que o multiculturalismo e a ideia de pluralidade cultural são cada vez mais importantes exatamente no contexto em que o mundo é cada vez mais padronizado. Quando a noção de desconstrução à Derrida se encontrou com o multiculturalismo, o dano foi completo.
"A desconstrução postulou que todos os textos são instáveis e irredutivelmente complexos, e que os significados, eternamente variáveis, são imputados pelos leitores e observadores. Ao concentrar nas possíveis contradições e ambiguidade de um texto (articulando os argumentos com uma prosa deliberadamente empolada e pretensiosa), promulgou um relativismo extremo que foi, em última análise, niilista em suas implicações: qualquer coisa poderia significar qualquer coisa; a intenção do autor não importava e não podia ser discernida objetivamente; já que tudo tinha uma infinidade de significados. Em suma, não existia verdade."12
Não é difícil perceber aí, contraditoriamente, o esteio para argumentos antivacina, para o negacionismo do aquecimento global, para a negação da História como Ciência. A história deixa de ser uma ciência e se transforma, quando muito, na arte de ‘inventar’ o passado. E todas as invenções são boas, válidas e defensáveis se servirem ao multiculturalismo pós-moderno e forem performadas adequadamente:
"O que me impressionou então e tem me impressionado desde então, é que se crê o se descrê das atrocidades somente com base na preferência política (...). Sei que é moda dizer que boa parte da história oficial é mentira, de qualquer forma. Estou disposto a acreditar que a história é, em sua maior parte, incorreta e tendenciosa, mas o que é peculiar a nossa época é o abandono da ideia de que a história pudesse ser escrita com base na verdade. No passado, as pessoas mentiam deliberadamente ou inventavam inconscientemente o que escreviam ou esforçavam-se para chegar à verdade, sabendo muito bem que deveriam cometer muitos erros; mas, em cada caso, acreditavam que aqueles “fatos” tinham existido e eram, em maior ou menor grau, passíveis de serem descobertos."13
A substituição da razão pela emoção, da totalidade pelos localismos, assim como o descaso com os fatos e a degradação da linguagem são fenômenos mundiais, com peculiaridades próprias em cada lugar e tempo. O “declínio da verdade” e sua substituição pelo eufemismo “fatos alternativos” tem trazido consigo o crescimento de movimentos nacionalistas, o medo dos estrangeiros, o temor do diferente – quando se refere a classe, cor, gênero e origem – os quais estimulam cada vez mais um forte tribalismo, a que as redes sociais e suas bolhas, protegidas por inúmeros filtros, respondem com a perda da capacidade de se confrontar com opiniões diferentes. A morte da verdade, ao se substituir o conhecimento científico pela opinião das multidões, corrói as instituições democráticas. Resta saber a quem poderia interessar a corrosão dessas instituições. Responder a essa pergunta pode nos ajudar a entender como chegamos aqui.
III
A descrença nos valores democráticos se expressa também no descrédito da Ciência. Proliferam grupos organizados, sites, blogs e vídeos em defesa do argumento de que a terra é plana. Cresce o movimento antivacina, com a divulgação de que o vírus atenuado pode levar ao autismo. A Teoria da Evolução passa a ser contestada e o design inteligente, a nova roupagem do criacionismo, explicaria a origem das espécies. O aquecimento global passa a ser encarado como mera propaganda de críticos que ignoram os benefícios do desenvolvimento industrial, portanto uma simples teoria da conspiração. Essas visões distorcidas se desdobram também na negação dos germes, na negação da existência da covid-19 e, consequentemente, nas suas formas constatadas de disseminação.
No entanto, é preciso constatar que o ataque à Ciência não é um fenômeno apenas contemporâneo, e tampouco parece ter uma unidade ou um objetivo claro. O mais surpreendente é que esses ataques não têm sido simples assaltos à razão, aos centros de pesquisa e ensino — muitas vezes eles são orquestrados em nome da “razão e da ciência” e provindos de centros de pesquisa e ensino.14 Portanto, pensar esses movimentos como uma simples oposição entre Ciência versus Anticiência é simplificar o problema. Isso nos coloca uma questão importante: qual a especificidade que, hoje, conecta esses elementos díspares e, aparentemente, desconectados? É possível sugerir que os elementos anticiência se encontram ao colocar em dúvida a positividade de alguns dos valores comumente atribuídos às ciências (menos os valores ontológicos, epistemológicos e mais os políticos ou sociais). A ciência parece viver uma crise de confiança; contudo, não é tarefa simples compreender se essa crise advém de uma sociedade polarizada, ou a ela dá origem. Teria essa crise de confiança relação com as transformações do mundo do trabalho aqui apontadas?
Em julho de 2019, o Instituo Gallup realizou uma pesquisa sobre o grau de confiança nas Ciências com mais de 140 mil pessoas em 144 países. A pesquisa, encomendada pela organização britânica Wellcome Trust, mostrou que, no Brasil, 73% dos entrevistados desconfiavam da ciência e 23% consideravam que a produção científica contribuía pouco para o desenvolvimento social e econômico do país. Mas o Brasil não foi um caso isolado, em países como França e Japão, os índices de desconfiança chegaram a 77% dos entrevistados.15 O relatório Wellcome Global Monitor mostrou que 64% das pessoas, diante de um conflito que oponha ciência e religião, disseram confiar mais na religião. Importante destacar que quanto maior o índice de desigualdade social, maior é a desconfiança em relação à ciência. Mais que isso, a preferência pela religião parece diretamente relacionada à desconfiança em relação às instituições sociais em geral.16 A descrença na ciência parece expressar uma desconfiança generalizada em todas as estruturas de poder das sociedades chamadas democráticas – governos, justiça, imprensa, representação política etc. – e parece responder a uma questão empírica incontornável: de fato, os benefícios da ciência e da tecnologia não têm sido capazes de melhorar a vida da maioria das pessoas, e isso fica ainda mais evidente quanto maior é o grau de desigualdade social experimentado por elas.
Já se sugeriu que há também uma corrente mais profunda e permanente de anti-intelectualismo na cultura ocidental, especialmente na tradição estadunidense, impulsionada, sobretudo, pela convergência entre o pensamento religioso, o discurso político conservador e a influência dos empresários sobre a sociedade e o Estado, e o seu temor de contestação social.17 Assim, o anti-intelectualismo estaria associado a uma supervalorização do conhecimento prático em detrimento do especulativo. A Guerra Fria teria acentuado ainda mais esses traços e destacado o medo de que conteúdos humanistas pudessem inspirar uma postura politicamente crítica e desafiadora, aumentando a desconfiança em relação às ciências humanas em geral.
Desde o século XIX, a ciência tem sido percebida como motor do progresso e veículo central para a promoção da qualidade de vida. Mesmo quando esse princípio enfrentou contestações, sobretudo a partir da esquerda socialista, isso ocorreu dentro dos marcos da própria ciência, antes para destacar sua incapacidade de atingir a todos do que para desqualificá-la como vetor do progresso. Entretanto, esse quadro começou a mudar em algum momento na década de 1970. A partir de então, ganha lugar a crença de que a ciência se movia por interesses privados a serviço da acumulação de capital e não servindo, portanto, ao interesse da maioria das pessoas.
No Brasil, isso ficou manifesto no estudo Percepção pública da Ciência & Tecnologia no Brasil 2019, feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), por demanda do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) — levantamento que é feito, periodicamente, desde 2006. A pesquisa
"(...) entrevistou 2.200 pessoas de todas as regiões do país e constatou uma diminuição do percentual de indivíduos que consideram que ciência e tecnologia só trazem benefícios para a humanidade – de 54%, em 2015, para 31%, em 2019. Também verificou um crescimento dos que julgam que ciência e tecnologia produzem tanto benefícios quanto malefícios – de 12% em 2015, para 19%, em 2019. Registrou ainda uma redução na proporção dos que consideram os cientistas pessoas que fazem coisas úteis para a sociedade. Em 2010, esse número era de 55,5% dos entrevistados, em 2015 caiu para 52% e, em 2019, para 41%."18
Embora pareça evidente a conexão entre a desconfiança da ciência e a conjuntura política em que vivemos, nem sempre é fácil mostrá-la com clareza. Entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, a União Europeia promoveu um inquérito entre cidadãos e organizações jornalísticas, com o objetivo de avaliar a eficácia da atuação dos agentes de mercado acerca das fake news. O questionário recebeu 2.986 respostas, sendo 2.784 de indivíduos e 202 de organizações jornalísticas (sites, jornais, blogs informativos etc.), alcançando, sobretudo, países como Bélgica, França, Itália, Espanha e países do Reino Unido. 84% acreditavam que as fake news se difundiam para orientar o debate político; 65%, que elas eram produzidas com o objetivo de gerar receitas para empresas e indivíduos; 88% concordaram que a desinformação nas redes sociais se disseminava recorrendo às emoções da população; por fim, 50% dos entrevistados apontaram que a verificação posterior à disseminação de uma fake news não seria razoável, pelo simples fato de que a correção posterior não alcançaria o mesmo público da notícia original. Uma das sugestões da pesquisa foi a substituição da expressão fake news – porque ela, de fato, não daria conta do sentido político e mercadológico do fenômeno – pela palavra mais precisa: desinformação.19 No mesmo período, um estudo realizado nos EUA pelo Pew Researh Center (um think tankfundado em 2004 em Washington para fornecer informações sobre questões, atitudes e tendências que estão moldando os EUA e o mundo) mostrou que os eleitores do Partido Republicano são os mais desconfiados em relação a temas como mudança climática, agricultura geneticamente modificada, eficiência de vacinas etc. Tal informação sugere que haja aqui uma resistência específica a temas e a evidências científicas quando esses possam implicar um aumento da regulamentação estatal.
É evidente que não se trata do “mero” desafio – que seria em si mesmo imenso –de fazer com a que ciência estabeleça um melhor diálogo com a sociedade. Não se trata simplesmente de reconstruir uma plataforma de legitimação social ou de maior transparência para os procedimentos científicos, nem, tampouco, de tornar a ciência mais aberta aos debates sociais ou de trazer o conhecimento de suas pesquisas para perto do cidadão comum; muito menos de tentar convencer os que negam seus procedimentos ou conclusões. Essas medidas de “aumento de transparência” não seriam capazes de combater uma suposta conspiração entre Ciência, Estado e Empresas pela simples razão que o movimento anticiência está a serviço de um determinado modo de fazer política. Em resumo, a defesa de certas posições políticas se embasaria na escolha cuidadosa de alguns princípios anticiência. Desse modo, é preciso reconhecer que uma postura anticiência não é um simples irracionalismo, mas uma racionalidade politicamente instrumental e seletiva. Isso fica evidente nas discussões sobre mudança climática:
"O consenso entre cientistas sobre o aumento da temperatura global nos últimos 130 anos e o peso das atividades humanas nesse processo gerou uma participação mais efetiva dos governos na regulação da emissão de gases estufa. Várias organizações financiadas pela indústria de combustíveis fósseis tentaram minar a compreensão do público sobre o consenso científico que havia sido alcançado sobre esse assunto, promovendo pesquisadores ‘céticos’, disseminando dúvidas e controvérsias (...) Esse movimento foi tão intenso que, (...), conseguiu fazer com que a mídia se sentisse compelida a relatar as opiniões de grupos contrários”20
Esse tipo de manipulação da indústria se repetiu na indústria do cigarro, medicações, cosméticos etc. Ou seja, nos movimentos anticiência, não há ignorância ou desconhecimento dos princípios ou procedimentos científicos em si. Parafraseando um mestre: “soou o dobre de finados da ciência”. Não se trata mais de saber se este ou aquele princípio científico é verdadeiro, mas se ele é útil ou prejudicial ao capital, se é cômodo ou incômodo. O lugar da investigação desinteressada foi ocupado pelos mercenários pagos e a má consciência e as más intenções substituíram a investigação imparcial.21 Portanto, não faz sentido combatê-los contrapondo a verdade à mentira, pois esses movimentos são profundamente ideológicos, ou seja, não apenas expressam ideias ou valores falsos, mas constroem sentidos e intepretações sobre o mundo e a ciência que mascaram ou negam a realidade conflituosa e dividida do mundo. Não se combate uma ideologia com a verdade, porque a ideologia não é o contrário ou a negação da verdade, mas é uma outra verdade, que caminha em sentido contrário, servindo a interesses econômicos e sociais bem precisos. Assim, nessa quadra histórica do capitalismo neoliberal e globalizado, a desinformação – fake news, se preferirem – e o movimento anticiência precisam ser desmontados como elementos fundamentais do processo de acumulação de capital, porque é aí que ela faz sua aparição e adquire seu sentido.
1 Sobre a crise do neoliberalismo e suas implicações, ver LÉVY, Dominique; DUMÉNIL, Gérard. A crise do neoliberalismo. Trad. Paulo Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014. e HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. Trad. Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. 5ª ed. São Paulo: Loyola, 2014.
2 HARVEY, David. “A contrarrevolução neoliberal” Revista Jacobin. 31 julho de 2017. Tradução e introdução de Pedro Micussi. (online)
3 FUKUYAMA, Francis. O fim da História e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
4 HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 2005, p. 55.
5 JAMESON, Fredric. Future City. New Left Review, 21, maio/junho, 2003. https://newleftreview.org/issues/ii21/articles/fredric-jameson-future-city Acesso em 29 nov. 2020.
6 GRAMSCI, Antonio. Americanismo e Fordismo. Cadernos do Cárcere. Vol 4. Ed. e Trad. Carlos Nelson Coutinho, Luiz Henriques, Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 262.
7 Sobre o regime fordista de trabalho e a inovação na indústria automobilística brasileira, ver Elizabeth Bortolaia Silva (1991) e Nádya Araújo de Castro (1995).
8 JAMESON, Fredric. Future City. New Left Review, 21, maio/junho, 2003. https://newleftreview.org/issues/ii21/articles/fredric-jameson-future-city Acesso em 29 nov. 2020.
9 LASCH, Christopher A cultura do narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio. Rio de Janeiro: Imago, 1983, p. 15-17.
10 BLOOM, Allan. The closing of the American Mind. New York. Simon & Schuster, 1987, apud KAKUTANI, Michico. A morte da verdade: notas sobre a mentira na Era Trump. Trad. André Czarnobai e Marcela Duarte. Rio de Janeiro. Intrínseca, 2018. p. 62.
11 JACOBY, Russel. O fim da utopia: política e cultura na era da apatia. Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 53/54.
12 KAKUTANI, Michico. Op.Cit. p. 62.
13 ORWELL, George. Recordando a guerra civil espanhola. Lutando na Espanha. Trad. Ana Souza. São Paulo: Globo, 2006, p. 266 e p. 275.
14 EPSTEIN, Isaac. “Ciência e Anticiência (apontamentos para um verbete)”. Comunicação & Sociedade, n. 29, 1998.
15 ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. “Resistência à ciência”. Pesquisa Fapesp, n° 284, outubro de 2019. https://revistapesquisa.fapesp.br/resistencia-a-ciencia/ Acesso em 14 out. de 2020.
16 “Os dados mostram que, em países desenvolvidos, a percepção sobre os benefícios da ciência é três vezes maior entre indivíduos que dizem levar uma vida confortável (...); em países mais desiguais, as pessoas tendem a desconfiar mais da ciência do que em nações mais igualitárias”. Para Simon Chaplin, diretor de Cultura e Sociedade da organização britânica, “as evidências em vários países sugerem que o descrédito na ciência tem relação com a reputação de outras instituições, como o governo e a Justiça.” (ANDRADE, 2019, s.p.).
17 HOFSTADTER, Richard. Anti-Intellectualism in American Life. New York: Vintage Books, 1963.
18 ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. “Resistência à ciência” Op. Cit.
19 CAZARRÉ, Marieta. Países europeus combatem desinformação na web de formas distintas. Agência Brasil - Lisboa, 08/07/2018. https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-07/fake-news-paises-europeus-combatem-o-problema-de-formas-distintas Acesso em: 26 out. de 2020.
20 ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. “Resistência à ciência” Op. Cit.
21 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. São Paulo. Boitempo, 2013, p. 86.
Expediente
Comitê de Redação: Adriana Marinho, Vivian Ayres, Rosa Rosa Gomes.
Conselho Consultivo: Dálete Fernandes, Carlos Quadros, Gilda Walther de Almeida Prado, Daniel Ferraz, Felipe Lacerda, Fernando Ferreira, Lincoln Secco e Marcela Proença.
Publicação do GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia Política) / FFLCH-USP
Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Sala H4. São Paulo/SP. CEP: 05508-000
Email: mariaantoniaedicoes@riseup.net

