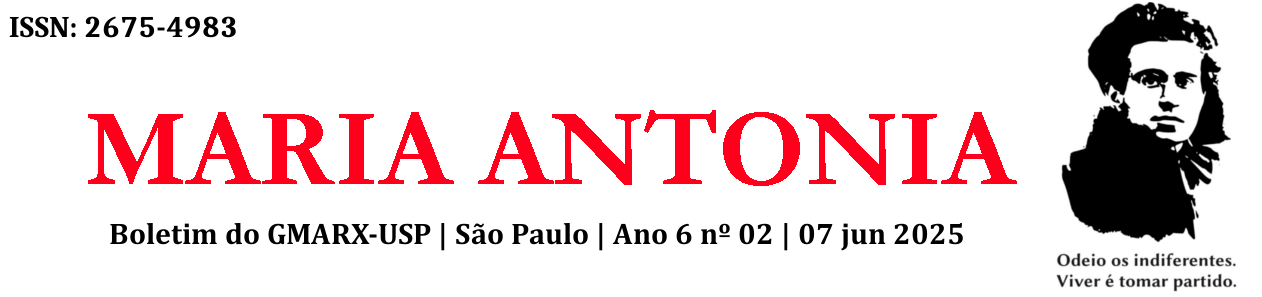
A conjuntura...
ENTRE O CAPITAL E O ABISMO: LIÇÕES DE GAZA
Gabriel Teles
Doutor em Sociologia - USP

Vivemos sob uma paz saturada. Não a paz da concórdia, mas a paz da anestesia — um intervalo gerido entre bombardeios. Em Gaza, essa anestesia falha. O mundo, acostumado a camuflar a violência com o véu da linguagem técnica — "operações", "danos colaterais", "segurança" — encontra ali o colapso de suas metáforas.
Na Faixa, não há verniz possível. O real está nu: corpos em pedaços, crianças soterradas, colunas de fumaça como a única arquitetura do tempo. O que ali se vê é o capitalismo sem disfarce, o motor da história sem capô, girando sobre ossos. Gaza é o instante em que a engrenagem perde o pudor.
Ali, toda ilusão liberal se desfaz como poeira. Não há contrato social, não há direito à vida, não há Estado de bem-estar. Há zonas de sacrifício delimitadas por fronteiras e mantidas por tecnologia de guerra. E o que se testa ali — drones autônomos, bloqueios logísticos, gestão algorítmica da escassez — não é exceção, mas antecipação. Gaza é o terreno onde o capital ensaia sua dominação futura, onde o controle absoluto da população se torna operação rotineira, onde a vida é gerida como um resíduo.
Tudo se torna cálculo. A existência é medida em megabytes de vigilância, o território em metros de isolamento, a morte em margens de lucro. A lógica da acumulação exige esse tipo de laboratório: lugares onde a devastação seja tolerável, onde o horror possa ser gerido como oportunidade, onde a indiferença internacional se transforme em licença para continuar. E o mundo, habituado ao espetáculo, consome essas imagens como se fossem ficção: um genocídio assistido ao vivo, entre uma notificação e outra.
Mas Gaza insiste. E essa insistência é insuportável. Porque ali ainda pulsa o que deveria ter sido erradicado: a dignidade, a comunidade, o gesto de dizer “não” mesmo sob os escombros. Essa recusa a desaparecer é o que escapa ao controle total. E é exatamente isso que o capital não tolera — que uma vida, por mais cercada, destruída e silenciada, ainda se afirme como inegociável.
Não se trata apenas de ocupação ou conflito. Gaza é um laboratório. Um campo de prototipagem onde se testam formas de controle, técnicas de vigilância, ciclos de escassez programada. Tudo que ali se desenvolve será, cedo ou tarde, exportado — às periferias urbanas, aos campos de refugiados, às favelas dos trópicos.
Cercada como os presídios, observada como as populações excedentes, Gaza é uma versão radical daquilo que se universaliza aos poucos: a gestão da vida como custo, e da morte como oportunidade. A necropolítica, para além de conceito, é ali logística cotidiana. Cada explosão tem cotação. Cada ataque é um item de contrato. A guerra sempre foi um setor estratégico do capital. Na verdade, é mais: como diria Amarildo Menegat, a guerra faz parte da própria lógica do capital, entrelaçando-a à dinâmica histórica e categorial do capitalismo, sobretudo em seu momento de crise fundamental.
As tecnologias de repressão que hoje blindam fronteiras na Europa ou policiam bairros racializados nos Estados Unidos foram aperfeiçoadas em territórios como Gaza[1]. Ali, o tempo é revertido: o futuro já chegou, mas na forma de cerco. Um futuro onde o Estado se funde ao capital armamentista, onde a segurança é a linguagem da expropriação, onde o inimigo é definido por nascer do lado errado da cerca. Gaza é o lugar onde a militarização total da vida se apresenta como normalidade.
A economia política da destruição é, também, uma pedagogia. Ensina que o sofrimento pode ser lucrativo, que a dor pode ser quantificada, que a eliminação dos indesejáveis é uma tarefa racional, administrável, vendável. As imagens de corpos soterrados não são apenas consequência — são parte do produto. Vendem narrativas, geram cliques, consolidam consensos. A cada bomba que cai, um índice sobe, uma empresa cresce, uma diplomacia se reorganiza.
E o mais perverso: Gaza não é vista como advertência, mas como oportunidade. Aqueles que governam o mundo não se envergonham do que ali se passa — tomam notas. Porque Gaza funciona. Porque o controle se mantém. Porque, apesar de tudo, o mercado segue. E esse é o ensinamento que se alastra: a gestão perfeita da catástrofe, a eficiência da barbárie, a estabilidade do horror como modelo exportável.
Há quem ainda imagine a barbárie como acidente — algo que se infiltra quando o “sistema” falha. Mas Gaza nos ensina o contrário: a barbárie é o “sistema”. É ele funcionando com eficiência máxima, gerando lucro sobre a ruína. Não há colapso: há plano. Não há caos: há estratégia. O horror é organizado em planilhas, distribuído por satélites, otimizado por algoritmos.
E é por isso que Gaza não pode ser vista apenas como um caso extremo. Gaza é uma vanguarda — não da destruição, mas do futuro. Um futuro que se constrói sobre a lógica da eliminação do excedente humano. Um futuro onde a vida, para existir, precisará justificar seu custo-benefício.
A naturalização desse horror exige mais do que tanques: exige linguagem, exige teoria, exige uma engenharia do esquecimento. Walter Benjamin[2] nos alertou que todo documento de cultura é também um documento de barbárie — e Gaza, nesse sentido, revela a cultura política de um mundo que só reconhece como legítima a vida que pode ser convertida em mercadoria. O que se destrói ali não é apenas a infraestrutura de um povo, mas a possibilidade de outra história — a que Benjamin chamava de passado não redimido, que resiste à narrativa dos vencedores. Gaza não cabe na narrativa progressista da civilização ocidental. Ela interrompe. Ela acusa. Ela denuncia que a história, tal como tem sido escrita, é uma sequência de estados de exceção tornados regra.
Karl Korsch[3], ao analisar as mutações do Estado burguês diante da crise e da guerra, já indicava que a lógica do capital, diante do impasse, recorre à violência organizada como solução estrutural. A destruição, portanto, não é uma disfunção da ordem — é seu princípio de reorganização. Gaza não é uma anomalia. É uma racionalidade brutal, um índice da adaptação do capital à sua própria crise estrutural, onde a guerra substitui a política e a supressão da humanidade é o que garante a sobrevida do sistema. O Estado, longe de ser árbitro, torna-se operador direto da acumulação por espoliação, armado não apenas de fuzis, mas de tratados internacionais que garantem sua impunidade.
Ao pensar o fascismo como forma de gestão da pulsão de morte, Vladimir Safatle[4] ajuda a compreender como Gaza não é apenas palco de extermínio, mas um dispositivo pedagógico da dominação. Ensina-se ao mundo, diariamente, que nada será feito. Que corpos podem ser apagados em tempo real e que a indignação pode ser administrada por algoritmos. Há aí um novo tipo de poder: aquele que não apenas destrói, mas que transforma a destruição em banalidade, em repetição, em fluxo. Um fascismo sem espetáculo, mas com eficiência. Um fascismo sem uniforme, mas com drones.
O perigo não é só o que se faz em Gaza — é o que Gaza ensina. Porque o que ali se consolida é a equivalência entre governar e eliminar. Entre manter a ordem e destruir o outro. É a política reduzida a operação militar. Gaza nos obriga a olhar para o fundo do abismo e nomeá-lo. Não como tragédia isolada, mas como revelação do que o capital está disposto a fazer — e a repetir — para preservar sua sobrevivência.
Vivemos numa era em que até a morte se converte em conteúdo. Gaza irrompe em nossas telas entre um scroll e outro. Um vídeo, uma lágrima, uma hashtag. Em seguida, o silêncio. A dor foi consumida. O horror, digerido. Mas há quem não possa esquecer. Há quem viva no intervalo entre bombardeios, e que se recuse a ser apagado.
Essa recusa é o que torna Gaza perigosa. Porque ela resiste. Resiste com poesia, com rostos queimados que não pedem clemência, com escolas reabertas entre escombros, com crianças que desenham o céu mesmo quando só há fumaça.
Mas o mundo digital já aprendeu a neutralizar até mesmo a resistência. Como mostra Shoshana Zuboff[5], vivemos sob um regime quase absoluto de controle (o que ela chama de “capitalismo de vigilância”), onde cada gesto, cada indignação, cada clamor por justiça é convertido em dado, analisado, vendido. A dor vira métrica de engajamento. A denúncia vira tráfego. O algoritmo não diferencia o grito do anúncio — apenas contabiliza sua capacidade de retenção. Assim, Gaza corre o risco de tornar-se não uma memória, mas um fluxo — uma sequência de imagens que circulam sem lastro, que indignam sem transformar, que expõem sem abalar.
As redes, longe de nos emanciparem, funcionam como dispositivos de contenção: absorvem a energia política e a devolvem domesticada, tornada comentário, curtida, emoji. A guerra em Gaza, nesse circuito, aparece em pixels — mas sem peso. O mundo é treinado a assistir à destruição como quem vê uma série: em episódios, com cortes dramáticos, com momentos virais. E depois esquece. O horror se atualiza, mas não se acumula.
O controle não opera apenas pela censura, mas pela superexposição. Mostra-se tudo, sempre, até que nada tenha impacto. Como observa Byung-Chul Han[6], um de seus poucos insights lúcidos, vivemos uma "infodemia do real", onde o excesso de imagens paralisa. E nesse excesso, Gaza pode ser diluída — não porque não grita, mas porque grita junto a mil outras dores, todas sobrepostas, todas capturadas pelo mesmo sistema. Mark Fisher[7] chamou isso de realismo capitalista: a ideia de que, mesmo diante do horror, tudo permanece igual — porque não conseguimos mais imaginar o fim do capitalismo, apenas o fim do mundo. Gaza é a prova de que esse mundo já está acabando. E que as redes, longe de denunciar esse fim, o transmitem com filtros.
Gaza é o lugar onde o capital revela sua verdade mais profunda: a de que a acumulação exige destruição. Marx, nos Grundrisse, que o desenvolvimento das forças produtivas sob o capitalismo leva inexoravelmente à dissolução das condições que tornam a vida possível. A reprodução ampliada do capital não conhece limites morais ou naturais: ela precisa ultrapassá-los. O massacre, nesse contexto, não é um desvio, mas uma engrenagem — a violência é funcional à manutenção da ordem. O sangue alimenta a máquina. A guerra é uma forma de reorganizar os circuitos da acumulação. Gaza é uma zona de extermínio, mas também uma zona de extração: de dados, de poder, de lucros. A barbárie não é um colapso do sistema — é seu estágio avançado.
Rosa Luxemburgo, diante dos horrores da Primeira Guerra Mundial, escreveu que a humanidade se encontrava diante de uma escolha inadiável: socialismo ou barbárie. Hoje, Gaza nos mostra que a barbárie venceu mais uma rodada. Mas a escolha permanece. Porque a lógica que bombardeia Gaza é a mesma que privatiza a água, que desmata a Amazônia, que transforma moradia em ativo financeiro. É a mesma lógica que, ao invés de cuidar, precifica; ao invés de proteger, especula; ao invés de viver, mata. Gaza nos obriga a reconhecer que o mundo está organizado contra a vida — e que a transformação radical da sociedade não é mais uma utopia distante, mas a condição de possibilidade para que a Terra siga habitável.
A crise é uma constante do capitalismo, e que os momentos de expansão são apenas suspensões temporárias de suas contradições estruturais. Gaza é uma dessas zonas onde a crise se cristaliza em forma de ruína. A impossibilidade de integrar certos povos ao mercado mundial não gera solidariedade, mas punição. Quando a valorização do capital não pode se expandir por meio da produção, ela o faz pela destruição: guerras, cercos, bloqueios, extermínios seletivos. O capital vive de ciclos — e Gaza é o rebote de um mundo em colapso. Um mundo que, ao não encontrar mais onde investir (pelos limites internos a própria lógica de valorização do capital, na interpretação de Robert Kurz), investe na morte.
Mas se o capitalismo precisa da guerra, a resistência precisa da memória. Marx dizia que os mortos oprimem os vivos como um pesadelo. Mas também podem iluminá-los. Cada criança soterrada em Gaza, cada família destruída, cada escola bombardeada exige mais do que luto: exige ação. Exige uma recusa ativa da normalidade, uma interrupção consciente da engrenagem, uma revolta que rompa o tempo vazio da repetição e recupere a possibilidade de história. Porque, como ensinava Luxemburgo, ou seremos sujeitos do novo ou objetos da catástrofe. Gaza é a encruzilhada: ou seguimos no curso do lucro armado, ou ousamos pensar um mundo que se levante com a dignidade dos que resistem sob as cinzas.
Gaza como escolha histórica
Se Gaza é o futuro, a pergunta não é “como impedir que ele chegue?”, mas “como impedir que ele nos devore?”. O capitalismo já está em guerra contra a vida. Gaza é apenas a vanguarda visível de um processo subterrâneo que se alastra como mofo: silencioso, corrosivo, letal.
Não há neutralidade possível. O silêncio, neste momento, já é ruído de cumplicidade. E cada vez que nos omitimos, o algoritmo do capital registra: o horror pode seguir. É tolerável. É replicável.
O futuro, como disse Ernst Bloch, não está dado — ele é uma tarefa. Há sempre um “ainda não” que pulsa sob os escombros, uma esperança concreta que sobrevive mesmo no mais denso presente de dor. Gaza, mesmo sob bombardeio, ainda carrega esse “ainda não” — um amanhã que insiste em não ser cancelado, uma dignidade que desafia o cálculo, uma vida que, mesmo caçada, não abdica de si. Recusar Gaza como destino não é um gesto moral, é um gesto político de afirmação radical da história como possibilidade — e não como condenação.
Talvez nenhuma imagem recente represente tão bem essa inversão quanto o filme Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006), onde um mundo estéril e militarizado persegue a última faísca de esperança com tanques e cercas. Gaza, nesse paralelo, é o útero sitiado da história — onde a possibilidade de futuro é mantida sob fogo cerrado. Mas no filme, como na realidade, há quem proteja essa possibilidade com a própria vida. Porque há algo que nem a máquina consegue esmagar: a potência do que ainda pode nascer.
Epílogo: A linha no chão da história
Gaza não é apenas um território. É uma encruzilhada histórica. De um lado, a ordem que se sustenta na destruição gerida. Do outro, a vida que insiste, mesmo entre os escombros, em dizer “não”. Gaza é a faísca que o sistema tenta abafar porque lembra que ainda há mundo a inventar.
Se queremos outro futuro, é de Gaza que devemos partir. Não para aceitar o que ela revela — mas para recusar, em uníssono, que esse seja o único caminho.
Porque o que está em disputa não é apenas uma faixa de terra, mas a gramática do possível. Gaza mostra que o mundo já está dividido entre os que podem ser bombardeados e os que assistem. Entre os corpos que viram cinza e os que clicam. Entre os que lucram com o colapso e os que são esmagados por ele. Mas também mostra que, mesmo diante do fim programado, ainda há gesto. Ainda há palavra. Ainda há fogo que se recusa a apagar.
Recusar Gaza como destino é mais do que solidariedade — é insubmissão. É declarar que não aceitaremos um mundo onde a morte seja cotação, onde o extermínio seja logística, onde a vida seja permissão. É transformar a indignação em práxis. É organizar o luto como força histórica. É fazer do horror uma denúncia que desmonte a maquinaria do cinismo e devolva às palavras sua força de ruptura.
A história ainda não terminou. Ela range, hesita, estremece. Gaza é o ponto onde a engrenagem falha — e por isso, ali, se abre uma brecha. Uma rachadura por onde o novo pode entrar. Cabe a nós mantê-la aberta. Cabe a nós escavar nela um futuro que não seja repetição da catástrofe, mas invenção do impossível necessário. Gaza não pede piedade — exige coragem. Coragem de romper, de insurgir, de reconstruir sobre as cinzas uma outra forma de existir.
E quando perguntarem, no futuro, onde tudo começou a mudar, que possamos responder: começou quando olhamos para Gaza — e decidimos que não mais.
[1] Sobre essa dinâmica ler: < https://www.intercept.com.br/2025/01/03/entrevista-israel-gaza-tecnologia-guerra/?utm_source=chatgpt.com>.
[2] BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.
[3] Textos de Korsch sobre a guerra e o nazifascismo pode ser conferido no portal Crítica Desapiedada, traduzidas para o português: < https://criticadesapiedada.com.br/dossie-karl-korsch-guerra-e-nazifascismo/>.
[4] SAFATLE, Vladimir. Pensar após Gaza. Blog da Boitempo, 15 maio 2024. Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2024/05/15/pensar-apos-gaza/.
[5] ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Tradução de George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020. 800 p.
[6] HAN, Byung‑Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022. 114 p.
[7] FISHER, Mark. Realismo capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo? Tradução de Rodrigo Gonsalves e Jorge Adeodato: Autonomia Literária, 2020. 218 p.
- Resumo
-
O autor aborda o genocídio em Gaza em 2025 da perspectiva do colapso, não apenas do capitalismo, mas do mundo.
Palavras-chave: Colapso, Gaza, Genocídio
- Abstract
-
The author approaches the genocide in Gaza in 2025 from the perspective of the collapse, not just of capitalism, but of the world.
Keywords: Collapse, Gaza, Genocide
Comitê de Redação: Adriana Marinho, Clara Schuartz, Gilda Walther de Almeida Prado, Giovanna Herrera, Marcela Proença, Rosa Rosa Gomes.
Conselho Consultivo: Carlos Quadros, Dálete Fernandes, Felipe Lacerda, Fernando Ferreira, Frederico Bartz, Lincoln Secco, Marisa Deaecto, Osvaldo Coggiola, Patrícia Valim.
Publicação do GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia Política) / FFLCH-USP
Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Sala H4. São Paulo/SP. CEP: 05508-000
E-mail: maboletim@usp.br

