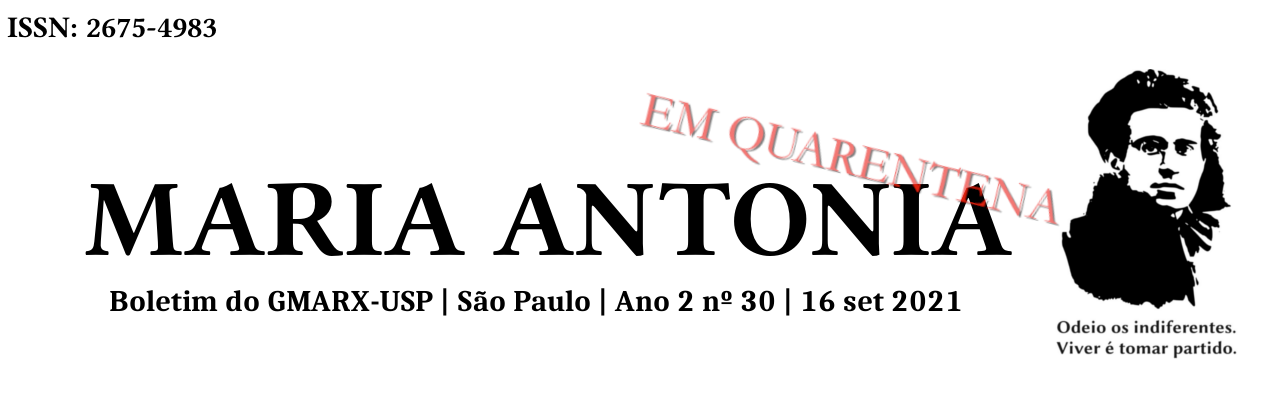
A conjuntura ...
DEPOIS DA FUNÇÃO NORMATIVA: NACIONALISMO E BOLSONARISMO
Antônio David
Historiador e professor da Escola de Comunicação e Artes -USP

Jair Bolsonaro (PSL) e Donald Trump encontram-se em Nova York, antes da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Fotógrafo: Alan Santos. Fonte: https://www.flickr.com/photos/55449636@N07/48788646462
Quando Roberto Schwarz escreveu “As ideias fora do lugar” (1973), mais do que uma tese sobre as ideias liberais no Brasil, ele propôs uma hipótese abrangente e ambiciosa sobre o complicado tema da recepção e, com ela, um programa de pesquisa, e é uma lástima que o debate posterior tenha girado em torno de mal-entendidos. Ele próprio tratou de os desfazer quase quatro décadas depois, e não há dúvida de que “Por que ideias fora do lugar?” (2012) é menos hermético do que o ensaio de 1973 e, por isso, mais convidativo ao leitor não tarimbado em linguagem filosófica.
A hipótese não é complicada: 1) ideias funcionam diferentemente segundo as circunstâncias; 2) nos contextos em que surgem, as ideias podem descrever a realidade, mesmo que superficialmente; 3) mas, quando importadas, essas mesmas ideias podem já não descrever a nova realidade à qual são confrontadas – nesse caso, outras ideias devem ser buscadas para esse fim; 4) isso não impede, todavia, que essas ideias (importadas) possam cumprir outras funções que não a descrição verossímil (que vão desde o ornamento retórico e o puro cinismo até a utopia e o objetivo político real) – nesse sentido, as ideias sempre estão no seu lugar; 5) é a crença ou a percepção de que tais ideias (importadas) descrevem a realidade local quando não o fazem o que explica o sentimento de que elas estejam fora do lugar – nesse sentido, elas estão mesmo fora do lugar, ou, em termos mais rigorosos, seu emprego é fora do lugar; 6) finalmente, as funções não se equivalem e não têm o mesmo peso. Sobre esse último aspecto, Schwarz escreve:
“[…] não vivemos num mundo abstrato, e o funcionamento europeu do liberalismo, com sua dimensão realista, se impõe, decretando que os demais funcionamentos são despropositados. As relações de hegemonia existem, e desconhecê-las, se não for num movimento de superação crítica, é por sua vez uma resposta fora do lugar”[1].
Como se vê, procurei reconstruir o argumento em termos genéricos, nos quais vejo o eco do esquecido Fundamentos empíricos da explicação sociológica (1959), de Florestan Fernandes, cuja obra parece para muitos hoje superada. Mas isso é outra história. Se Schwarz fala de ideias europeias, especificamente, é porque o escopo de sua investigação é delimitado: ele tratou de examinar as ideias liberais originadas na Europa, sua recepção oitocentista no Brasil e seu destino posterior. Não é demais lembrar que, no contexto em que o ensaio foi escrito, a Europa ocidental já não era, como nos oitocentos, a única fonte de ideias tidas por essas bandas como novas e avançadas, e provavelmente já não fosse a fonte predileta, estando em vias de ser superada pelos Estados Unidos. Por isso, insisto: mais do que a tese específica, o que interessa reter da proposta é a hipótese geral e o programa que lhe acompanha. Desse ângulo, a questão aparece para nós hoje muito mais rica (e complicada) do que em 1973, dada a multiplicação de fontes de ideias tanto no debate acadêmico como no debate público: Índia, México, África do Sul… (Se emprego nomes de países e continentes, é por pura economia, afinal, cada um desses nomes esconde contextos internos variados).
Nesses termos, não é difícil de se ver que a hipótese vem acompanhada de um programa de investigação, cujo núcleo consiste em aferir que funções as ideias cumprem em cada contexto – tanto naquele no qual a ideia foi cunhada, como nos contextos em que foi importada. A promessa é de que o contraste entre as partes garante ganhos de compreensão a respeito das partes e do todo. Se quisermos colocar a questão em termos mais familiares aos historiadores, podemos seguir a “lógica histórica” de Edward P. Thompson: o interrogado é a realidade local, o conteúdo da interrogação são as ideias, o que se visa é o processo histórico.
No caso brasileiro, trata-se de investigar a recepção, aqui, de ideias outras que não as liberais. É o caso das ideias nacionalistas – como arbitrariamente chamarei a família conceitual “nação”, “nacionalismo”, “pátria”, “patriotismo” e “povo”. Meu objetivo neste ensaio é discutir superficialmente a questão. Um exame acadêmico deveria repassar uma vasta e rica bibliografia, o que não farei. Como se trata aqui de um ensaio, não de uma pesquisa, lançarei hipóteses sem maior preocupação.
De cara, uma questão sempre me intrigou: salvo engano, as ideias nacionalistas, com algumas exceções, não só não foram percebidas entre nós como estando fora do lugar, como, bem ao contrário, nada parecia haver de estranho nelas – o oposto, portanto, do sentimento que as ideias liberais evocaram. Tudo se passa como se as ideias nacionalistas descrevessem de uma maneira tão verossímil a realidade – ainda que por vezes não uma realidade acabada, mas uma realidade em vias de – que soaria um total despropósito o só ato de levantar a questão. É certo que houve controvérsias e disputas em torno de quem é o povo e quem é a nação, mas justamente porque põem em litígio qual é a melhor descrição, elas pressupõem uma função descritiva e, com isso, apenas confirmam que, por aqui, não floresceu a percepção de que tais ideias não descrevem de modo algum a realidade. Não surpreende que a percepção e o sentimento de que somos, todos os brasileiros, um povo e uma nação tenham vingado. Ressalto: não me refiro a outras funções que as ideias nacionalistas desde sempre cumpriram no Brasil, mas à convicção, bem partilhada, de que tais ideias efetivamente descrevem a realidade brasileira. A quase ausência do aludido sentimento de deslocamento implica então que tais ideias descrevem a realidade brasileira? A não ser que concebamos “povo” e “nação” como um conjunto de indivíduos que partilham de uma mesma cidadania formal, ou, dando asas à imaginação, como um conjunto de indivíduos que em comum têm esse ou aquele traço de caráter, a resposta deve ser não.
Para o estabelecimento da função descritiva das ideias nacionalistas, é preciso olhar para o contexto histórico em que surgiram. Por isso, cabe de antemão afastar uma ideia que por muito tempo se tomou como requisito, para que as ideias nacionalistas possam descrever uma realidade: a ancestralidade. Sobre este aspecto, o historiador Patrick Geary oferece relevantes indicações. Ao estudar a gênese das ideias nacionalistas na Europa do século XIX, quando tais ideias ganharam a forma com a qual as conhecemos, ele observa uma construção ideológica pela qual se buscou estabelecer linhas diretas entre povos no mundo contemporâneo e povos na antiguidade, o que só foi possível porque estes foram encarados como “distintos e estáveis, unidades socioculturais objetivamente identificáveis”. Todavia, explica Geary, os povos da Europa “sempre foram muito mais fluidos, complexos e dinâmicos do que imaginam os nacionalistas modernos”, de modo que nomes dos povos “podem soar familiares após mil anos, mas as realidades sociais, culturais e políticas encobertas por esses nomes eram radicalmente diferentes do que são hoje”. Trata-se de um uso político da história com repercussões políticas no presente. É o caso das reivindicações políticas sobre territórios, o que se faz com base na noção ideológica de “aquisição primária”[2]. A mais significativa dessas repercussões, base para todas as demais, é a própria ideia de nação. Geray é assertivo a esse respeito: “o nacionalismo pode fabricar a própria nação”[3].
Assim, apesar de o par ancestralidade-descendência atravessar o imaginário nacionalista – antes do século XIX, unindo elites estamentais contemporâneas e ancestrais e deixando de fora a plebe, e, no século XIX, unindo todas as camadas sociais em um único “povo”[4] –, o nacionalismo não o descreve, pois não há uma realidade a ser descrita. Da ótica desse par conceitual, o nacionalismo, em sintonia com o que ensina Foucault, cumpre sobretudo uma função normativa de fundo biológico, que é a de impor a nação a um conjunto de indivíduos. Não surpreende que, na Europa de hoje, parte da extrema-direita – sobretudo a que tem em suas bases filhos de imigrantes – tenha deixado de lado a ancestralidade; esta deu lugar às “tradições culturais” ou aos “valores”.
Afastada a ancestralidade, para uma tentativa de captura da função descritiva das ideias nacionalistas, recorrerei a Comunidades imaginadas (1983), de Benedict Anderson, um clássico nos estudos contemporâneos sobre o nacionalismo. É bastante conhecida a tese da nação como “comunidade política imaginada”, ainda que seu complemento por vezes passe despercebido: “imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”[5]. De todo modo, o mais comum entre os intérpretes do nacionalismo que recorrem a Anderson é tomar as três noções (“imaginada”, “intrinsecamente limitada” e “soberana”) como as componentes elementares da nação, o que levou muitos a enfatizar, talvez em demasia, a nação como representação, deixando de lado sua materialidade. Na contramão dessa tendência, penso que, para a conformação da realidade descrita pelo nacionalismo, as três são insuficientes quando separadas da noção de “comunidade”. É sobre esta que quero me deter.
Ao justificar o emprego de “comunidade”, Anderson escreve: “[a nação] é imaginada como uma comunidade porque, independentemente da desigualdade e da exploração efetivas que possam existir dentro dela, a nação sempre é concebida como uma profunda camaradagem horizontal”[6]. A passagem tem sua dificuldade. Ela dá a entender que a dita camaradagem ou, como aparecerá na sequência, a “fraternidade” terá lugar com ou sem desigualdade e exploração, e, havendo essas duas, sob qualquer configuração concreta: assim, mesmo em contextos marcadas pela desigualdade e exploração extremas, a “fraternidade” estaria presente. Não nos é familiar?
Apenas esse trecho sugere que a nação e o nacionalismo cumprem a função de descrever toda e qualquer formação histórica, desde que haja “fraternidade”, independentemente do que isso signifique e pelas razões que houver. Assim, apesar de a “fraternidade” sob a extrema desigualdade e a “fraternidade” sob a absoluta igualdade nada terem de comum a não ser o nome – este não passaria de uma casca oca, vazia –, sua mera presença seria suficiente para atestar que as ideias nacionalistas descrevem a realidade, inclusive em países profundamente desiguais.
Ainda que empobrecedora, essa é sem dúvida uma leitura possível da tese veiculada por Anderson, mas não é a única. Para uma outra leitura, ajuda em particular a passagem a seguir, na qual Anderson aborda o “modelo” de Estado nacional que, segundo ele, estava pronto para ser copiado por outros no começo do século XIX:
“Mas, exatamente por ser um modelo conhecido na época, ele impunha certos 'padrões' que impossibilitavam desvios muito acentuados. Mesmo a pequena nobreza atrasada e reacionária da Hungria e da Polônia tinha dificuldade em não armar um vasto espetáculo de 'convites' aos seus compatriotas oprimidos (mesmo que fosse só para a cozinha). Digamos que era a lógica da 'peruanização' de San Martín que estava em funcionamento. Se os 'húngaros' mereciam um Estado nacional, isso então significava os húngaros, todos eles; significava um Estado em que o locus último da soberania tinha de ser a coletividade que falava e lia húngaro; e significava também, no devido tempo, o fim da servidão, o fomento da educação popular, a ampliação do direito de voto, e assim por diante. Dessa maneira, o caráter 'populista' dos primeiros nacionalismos europeus, mesmo quando liderados demagogicamente pelos grupos sociais mais retrógrados, foi mais profundo do que os americanos: a servidão tinha de sumir, a escravidão legal era inimaginável – quando menos porque o modelo conceitual assim o exigia irretorquivelmente”[7].
Se levarmos a sério a passagem, inclusive o “assim por diante”, a coisa muda de figura. Com base nela, considero que quando Anderson estabelece como requisito da nação a existência de uma “camaradagem horizontal” “independentemente da desigualdade e da exploração efetivas que possam existir dentro dela”, ele estabelece as condições para que faça sentido se falar em nação e, por extensão, em nacionalismo – ou seja, para que nação e nacionalismo cumpram alguma função, qualquer que seja –, não as condições para que ambas cumpram uma função especificamente descritiva. Para que as ideias nacionalistas descrevam uma realidade, em contrapartida, é necessário que se observem certos “padrões”, os quais não permitem “desvios muito acentuados”, e que em última instância implicam na universalização de direitos. Nesses termos, a “fraternidade” parece ganhar um conteúdo próprio, específico, à luz do qual se compreende por que tenha sido justamente ela a esquecida entre as três ideias revolucionárias irmãs (ao mesmo tempo em que a igualdade era reduzida a sua dimensão formal).
Sabemos que a universalização de direitos e a conquista de uma situação de relativo bem-estar das camadas subalternas em países da Europa ocidental, e em alguns casos fora dessa região, foi resultado muito mais de um longo processo de lutas de trabalhadores e seus aliados do que um benefício concedido por aqueles situados no topo estamental. É provável que as ideias nacionalistas tenham ocupado a função de arma política dos subalternos, até poderem cumprir uma função descritiva da realidade, o que, como sabemos, deu-se de maneira descontínua historicamente. Mas é igualmente certo que o que Anderson chama de modelo nacionalista teve peso, assim como teve peso o aparecimento, no século XX, do Estado do bem-estar social, criando um novo referencial ou padrão de direitos individuais, sociais e humanos, em que o fim da servidão e o direito de voto já não eram suficientes.
Dito isso, para que as ideias nacionalistas descrevam uma realidade histórica, é necessário, além da soberania e da limitação territorial, a existência não de qualquer “camaradagem horizontal” ou “fraternidade” (Anderson) ou “comunhão de interesses” (Geary), mas daquela que só pode ter lugar onde haja direitos universais, nos marcos do padrão alcançado no século XX – e, não menos importante, onde os direitos sejam efetivos, não apenas previstos em lei. Não gastarei tinta para justificar e explicar que tal não é o caso brasileiro. Em vista dos direitos e do relativo bem-estar que os subalternos usufruem em algumas partes do mundo – bem ou mal, apesar do neoliberalismo, o Estado do bem-estar social ainda existe em alguns países –, não deveriam parecer despropositadas as ideias nacionalistas entre nós quando contrastadas com essas mesmas ideias naquelas partes? A pergunta pressupõe que estas deveriam se impor sobre aquelas, atestando-lhes o desacerto, mas não é o que ocorre. E como há ainda o risco de a pergunta soar estranha, é preciso dizer que a estranheza é reveladora da familiaridade que temos com uma ideia de “povo” e de “nação” que convive bem com uma abissal desigualdade, com níveis de pobreza alarmantes e com a violência cotidiana. No limite, pode-se “amar a pátria” e “ter orgulho da nação” e, ao mesmo tempo, nutrir desprezo e ódio por parte (majoritária) do “povo”[8]. A incoerência, apesar de patente, não é sentida nem percebida. Como então explicar a maneira como lidamos, no Brasil, com as ideias nacionalistas?
Minha hipótese é de que semelhante percepção e sentimento são possíveis porque, diferentemente das ideias do liberalismo, que por si mesmas impõem um programa político – tal é a vocação de todo liberalismo, político ou econômico –, as ideias nacionalistas só impuseram aqueles “padrões” de que Anderson fala, por razões que têm menos a ver com as ideias em si do que com o contexto histórico em que elas surgiram e se desenvolveram e com a maneira como indivíduos e grupos as mobilizaram segundo tradições e condições locais, em um processo histórico de longa duração. Em alguns casos, tais ideias deram um conteúdo tal à “fraternidade” que se tornaram ao fim e ao cabo descritivas. Penso ser esse o caso da experiência do Front Populaire na França dos anos 1930. Todavia, ideias nacionalistas não são por si mesmas vocacionadas a nenhum programa político. Isso permite que se possa falar em “povo”, “nação”, “nacionalismo”, “pátria” e “patriotismo” sob um chão histórico profundamente desigual e explorador e sem que se plante qualquer germe de mudança. Em sentido inverso, também possibilita que as esquerdas adotem a semântica nacionalista, com a esperança de a ela colar um programa de mudanças. Em suma, a ausência de pressões vindas dessas ideias possibilitou que elas circulassem por aqui sem causar maiores ruídos quanto a sua função. Algo semelhante pode ter ocorrido nos Estados Unidos[9].
Mas isso não é tudo. Ao tratar das ideias liberais, Schwarz sustenta, como mostrei acima, que o funcionamento europeu do liberalismo, “com sua dimensão realista, se impõe, decretando que os demais funcionamentos são despropositados”. Se o mesmo não ocorre com as ideias nacionalistas, se todas as formas assumidas pelas ideias nacionalistas parecem realistas, onde então localizar a hegemonia? Nesse caso, a hegemonia não está com os europeus, onde, como creio, as ideias nacionalistas ainda descrevem a realidade; ela parece estar dispersa: diferentes tipos de funcionamento, fusionando tradições locais com ideias de circulação internacional, são de igual maneira propositados. Em termos menos abstratos, se olharmos para as ideias nacionalistas no Brasil atual, da esquerda à direita, tais ideias e seu emprego parecem todas propositadas. Se olharmos para outros países, possivelmente veremos o mesmo. Se assim é, seria supérfluo falar em hegemonia. Esta teria se esvanecido. Não creio, contudo, que seja esse o caso.
Se nos perguntarmos que funções cumprem as ideias nacionalistas no Brasil, diferentes funções estão no páreo, como o que ocorre com as ideias liberais, muitas delas em baixa se olharmos para seu percurso histórico. Assim, creio que as ideias nacionalistas tomadas como projeto político, no sentido de se levar adiante algo como um “projeto de nação”, é algo que está em baixa, como parece estar em baixa a nação e o nacionalismo como mero ornamento – é sintomático que “descendente de italiano” já tenha virado piada. Outras funções podem ter lugar. Todavia, com Marilena Chaui, considero haver uma função por excelência que as ideias nacionalistas cumprem entre nós, uma função a um só tempo ideológica e normativa:
“Mesmo que não contássemos com pesquisas, cada um de nós experimenta no cotidiano a forte presença de uma representação homogênea que os brasileiros possuem do país e de si mesmos. Essa representação permite, em certos momentos, crer na unidade, na identidade e na indivisibilidade da nação e do povo brasileiros, e, em outros momentos, conceber a divisão social e a divisão política sob a forma dos amigos da nação e dos inimigos a combater, combate que engendrará ou conservará a unidade, a identidade e a indivisibilidade nacionais”[10].
A imagem de um povo coeso, uno, indiviso e em perigo apenas confirma o que essa mesma imagem tenta a todo custo afastar: como todo e qualquer povo, também nós somos divididos, isto é, somos atravessados por tensões sociais e conflitos políticos. Para lidar com isso que somos, a ideologia nacionalista lança mão de uma imagem do que parecemos ser, de como nos vemos e de como representamos a nós mesmos. A imagem em questão, de que são emblemáticos bordões como “cidadão de bem” ou “povo pacífico e ordeiro”, garante que as divisões sejam representadas quase como uma patologia. Especialmente emblemático é o bordão “meu partido é o Brasil”: em um só movimento nega-se o que se afirma (a indivisão) e afirma-se o que se nega (a divisão) porque a divisão é simplesmente pressuposta. Parece excessiva essa imagem, como notou certa vez Paulo Arantes, e de fato ela é excessiva e vulgar, o que não impede que ela exista como tal e que, como ela, indivíduos e grupos que dela se alimentam e reciprocamente a alimentam de volta sejam igualmente excessivos em seus pensamentos, discursos e ações. O excesso é, aliás, adequado em um contexto no qual a violência é o ar que se respira.
É certo que essa função convive com outras, e é compreensível se na experiência individual ela não pareça predominar. Todavia, é a função normativa que, conformando uma série de mecanismos de controle social, garante a relativa estabilidade e a continuidade do que em si mesmo é instável porque violento. Em poucas palavras, no Brasil as ideias nacionalistas cumprem centralmente a função de classificar para regrar, enquadrar, sujeitar, criminalizar e incriminar. Daí Chaui associar as ideias nacionalistas a uma “forma autoritária de pensar”[11], e a “fraternidade” a que Anderson faz alusão amparar-se não na existência de direitos universais, mas no tripé carência, favor e privilégio[12].
Como “forma autoritária de pensar”, as ideias nacionalistas são partilhadas, mas não igualmente por todas as partes, e aqui penso residir a hegemonia: primeiro porque as ideias nacionalistas fusionam o local a ideias de circulação internacional, e o circuito internacional possui assimetrias, inclusive materiais, de que as ditas ideias são uma expressão – tal é a “dupla inscrição” das ideias nacionalistas entre nós[13]; segundo, e remetendo-me especificamente ao Brasil, porque a esquerda não pode partilhar da ideia de que a divisão social seja uma patologia, sob pena de deixar de ser esquerda. Essa especificidade talvez explique por que soe estranho para nós que as lutas emancipatórias em outros países sejam atravessadas pelo nacionalismo, como no caso catalão. É certo que noções como “povo” e “nação” não necessariamente levam à negação da divisão e do conflito, mas tampouco favorecem entre nós a afirmação da divisão e do conflito (opostamente do que ocorre em outras partes, como em Cuba[14]); já o uso sistemático e ostensivo do discurso nacionalista ou do “verde-amarelismo” (Chaui) pela direita alimenta a negação, e, mais do que as ideias em si, é o uso que se faz de ideias em contextos específicos, e os resultados desse uso, o que importa. O ponto é que, ainda que a esquerda historicamente as dispute, as ideias nacionalistas tendem, no Brasil, como em muitos outros países, a ser hegemonizadas pela direita.
A questão do nacionalismo na esquerda deu e ainda dá o que falar, embora bem menos do que no passado. Hoje, mesmo agrupamentos trotskistas, que no passado rejeitavam as ideias nacionalistas mais por decoro dogmático do que por uma leitura da realidade, parecem tê-las adotado. O esforço de todos, claro, é converter as ideias nacionalistas em arma política: ressignificar a “nação” e o “povo” para tornar real a mal prometida “fraternidade”, isto é, universalizar direitos e o bem-estar. Independentemente de ser essa uma boa ou má estratégia – o que considero incerto –, o que mereceria ser melhor examinado é o fato de predominar largamente na esquerda, e não é de hoje, a percepção de que as ideias nacionalistas descrevem a realidade brasileira: há um povo, há uma nação.
Essa percepção entre as esquerdas não é nova, mas parece ter se fortalecido, e muito. Uma hipótese (não exclusiva) que penso merecer consideração, e que poderia embasar novas pesquisas, é que a emergência das identidades como categoria central de reflexão desencadeada pelo pós-estruturalismo nos anos 1970, e que ganhou um reforço extraordinário nas últimas duas décadas – e a viva adesão das esquerdas –, implicou em uma mudança de fundo na maneira pela qual a realidade é percebida, e essa mudança acabou por favorecer a adesão das esquerdas às ideias nacionalistas. Esse novo modo de perceber vem acompanhado de uma “argumentação essencialista”:
“O problema é que ‘nação’, ‘raça’ e ‘identidade’ são usados analiticamente, por bastante tempo, mais ou menos como eles são usados na prática, de uma maneira implícita ou explicitamente reificada, de uma maneira que implica ou afirma que ‘nações’, ‘raças’ e ‘identidades’ ‘existem’ e que pessoas ‘têm’ uma ‘nacionalidade’, uma ‘raça’, uma ‘identidade’”[15].
Como todos os anos, o 07 de setembro é uma ocasião para um uso político da história que a perverte e falseia, uma pseudo-história que, no entanto, costumamos encarar com desdém e até alguma graça, como se se tratasse de uma comédia. Não por acaso é este o momento oportuno para os militares aparecerem publicamente, com gestos discursivos ritualizados e que já agora parecem inofensivos. Neste ano de 2021, contudo, anunciou-se que ocorreria algo além da velha e ridícula ostentação retórica da identidade nacional. Falou-se até de insubordinação nos quartéis e de adesão em massa de militares aos atos convocados por Bolsonaro em seu “ultimato”. O que efetivamente teve lugar, deixo para outros analisarem. Apenas registro que Bolsonaro não dividiu a sociedade nesse 07 de setembro; a sociedade brasileira é dividida e o que se passou nesse dia foi expressão da divisão, que o bolsonarismo, como mais nova expressão da velha ideologia nacionalista da indivisão, luta para camuflar.
Ainda considero improvável que haja golpe no curto prazo, embora eu não tenha dúvida de que esse seja o desejo de alguns; improvável ou não, é inegável que os espíritos estão sendo insuflados e que o sentimento golpista tende a crescer no contexto eleitoral de 2022 e, a depender dos resultados, tenderá a crescer ainda mais a partir de 2023. Sobretudo, independentemente do que acontecer nos próximos meses, a atual circulação de discursos e afetos golpistas deixará marcas no médio e no longo prazo. Nada impede que os piores efeitos do golpismo em marcha apareçam apenas no futuro distante, com outros atores, o que não é menos preocupante. Em suma, não é preciso ser historiador para saber que o que hoje parece improvável pode se tornar provável amanhã. E não é preciso ser analista político para saber que, qualquer que seja o tempo e a forma do golpismo, o discurso golpista se voltará contra os “inimigos da nação”.
O ponto é que há sinais contundentes de um reforço na função normativa do ideário nacionalista, um reforço tal que parece visar não a norma, mas a exceção. Por essa razão, somos tentados a ler este reforço como tendo origem na aspiração a ditador de Bolsonaro, quando na verdade tudo indica tratar-se de um reforço social, que transcende em muito um indivíduo apenas, por mais relevante que seja o papel desse indivíduo na atual conjuntura e por mais real que seja essa sua aspiração[16]. Quais serão os desdobramentos desse reforço? Justamente porque não há fatalismo na História, enxergar nas instituições a garantia de que não haverá golpe ou um recrudescimento do autoritarismo é uma atitude no mínimo imprudente. Não há garantia. Os sistemas político e jurídico, aos quais uno a mídia, possuem autonomia apenas relativa em relação à sociedade, e a sociedade brasileira, porque recortada por desigualdades sobre desigualdades, é especialmente dinâmica[17]. Há maior prova de dinamismo do que a ascensão de Bolsonaro? Há apenas dez anos um parlamentar isolado e folclórico – lugar no qual ele permaneceu por mais de duas décadas –, ele viu uma brecha política com lastro social e foi oportunista o suficiente para ocupá-la e se tornar o que é hoje: expressão – vale reiterar, não insubstituível – de uma parcela considerável da sociedade brasileira, da qual parte não desprezível é fascista ou tem inclinações fascistas. Nessa nova conjuntura, torna-se ainda mais arriscado transitar no campo minado das imagens essencializadas de “um povo” e de “uma nação”, em nome de quem tudo é permitido e quaisquer ações se convertem em dever.
Bibliografia
Anderson, B. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Tradução Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
Brubaker, R., & Cooper, F. “Para além da ‘identidade’”. Antropolítica, nº 45, 2018, p. 266-324. Disponível em <https://periodicos.uff.br/antropolitica/article/view/42005>. Acesso em 15 set. 2021.
Chaui, M. Contra a servidão voluntária. Homero Santiago (org). Belo Horizonte: Autêntica Editora | Editora Fundação Perseu Abramo, 2013.
________. Manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro. André Rocha (org). Belo Horizonte: Autêntica Editora | Editora Fundação Perseu Abramo, 2013.
Geary, P. O mito das nações. A invenção do nacionalismo. Tradução Fábio Pinto. São Paulo: Conrad, 2005.
Gonçalves, J. F. (2017), “Revolução, voltas e revesas. Temporalidade e poder em Cuba”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 32, nº 93, 2017. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/jmvmQNJZd4zDFFBhQLCfpYQ/?lang=pt>. Acesso em 15 set. 2021.
Schwarz, R. “Por que ‘ideias fora do lugar’?”. In: Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 165-72.
Vesentini, Carlos Alberto; de Decca, Edgar Salvadori. “A revolução do vencedor”. Contraponto, ano 1, nº 1, nov. 1976, p. 60-71.
[1] SCHWARZ, R. “Por que ‘ideias fora do lugar’?”. In: Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 171.
[2] GEARY, P. O mito das nações. A invenção do nacionalismo. Tradução Fábio Pinto. São Paulo: Conrad, 2005, P. 22-24.
[3] Ibid, p. 30.
[4] Ibid, p. 31-32.
[5] ANDERSON, B. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Tradução Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 32.
[6] ANDERSON, op. cit., p. 34, grifo meu. Tratando da identidade nacional antes do século XIX, Geary oferece indiretamente os contornos do nacionalismo oitocentista: “Nem mesmo uma identidade nacional comum unia o abastado e o necessitado, o senhor e o camponês, em uma forte comunhão de interesses”. GEARY, op. cit., p. 31. A “forte comunhão de interesses” que atravessa toda a sociedade, de cima a baixo, parece afim à noção de “camaradagem horizontal”.
[7] ANDERSON, op. cit., p. 125-126, grifos meus.
[8] Não é demais a ressalva de que o problema aqui discutido não se reduz a antagonismos de classe, embora este seja um componente central.
[9] O fato de direitos terem sido conquistados ao longo de décadas com base na décima quarta emenda – cujo conteúdo comumente é evocado para se justificar a existência de um “povo” e de uma “nação” –, apenas confirma que a cidadania formal é insuficiente e que seu conteúdo efetivamente muda quando direitos são conquistados. Com ela, muda também a própria percepção de “povo” e de “nação”. Ainda assim, considero que também nos Estados Unidos as ideias nacionalistas não descrevem a realidade, haja vista a naturalidade com que por lá são encaradas a pobreza, a desigualdade e formas de violência cotidiana.
[10] CHAUI, M. Manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro. André Rocha (org). Belo Horizonte: Autêntica Editora | Editora Fundação Perseu Abramo, 2013, p. 149.
[11] CHAUI, M. Contra a servidão voluntária. Homero Santiago (org). Belo Horizonte: Autêntica Editora | Editora Fundação Perseu Abramo, 2013, p. 35.
[12] Chaui abordou o assunto de maneira sistemática e exaustiva em vários textos, reunidos na coletâneas aqui referidas. Nestes trabalhos, Chaui se baseou em estudos no campo da pesquisa em Ciências Sociais e na pesquisa histórica, em particular no trabalho sumarizado no artigo de Vesentini e de Decca. Cf. VESENTINI; DE DECCA. “A revolução do vencedor”. Contraponto, ano 1, nº 1, nov. 1976, p. 60-71.
[13] SCHWARZ, op. cit., p. 168-169. Com o pano de fundo que Anderson e Chaui oferecem, torna-se irônico o uso que fazemos das ideias nacionalistas em face do uso que se faz dessas mesmas ideias em países onde fazer parte do “povo” e da “nação” garante um status social de mínima respeitabilidade. Ao mesmo tempo, longe de ser um uso pitoresco, mas expressão de uma tendência global, o nacionalismo entre nós ironiza de volta esses usos propositados, revelando-lhes a superficialidade e a precariedade, uma tal precariedade que na Europa ocidental a extrema-direita nacionalista segue crescendo e acumulando vitórias. A propósito, por lá já se começa a falar de “brasileirização” da Europa. (Sobre as duas ironias, cf. Schwarz, 2016, p. 169).
[14] Essa é uma das razões pelas quais tenho reservas à sofisticada e competente leitura realizada por João Felipe Gonçalves acerca do nacionalismo em Cuba. Cf. GONÇALVES, J. F. “Revolução, voltas e revesas. Temporalidade e poder em Cuba”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 32, nº 93, 2017. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/jmvmQNJZd4zDFFBhQLCfpYQ/?lang=pt>. Acesso em 15 set. 2021.
[15] BRUBAKER, R.; COOPER, F. “Para além da ‘identidade’”. Antropolítica, nº 45, 2018, p. 274. Disponível em <https://periodicos.uff.br/antropolitica/article/view/42005>. Acesso em 15 set. 2021.
[16] Acredito que pesquisas etnográficas que por ventura tenham sido ou estejam sendo realizadas no universo do bolsonarismo venham a ser particularmente reveladoras quando publicadas.
[17] Além disso, porque sua autonomia é apenas relativa em relação à sociedade (na qual a democracia não é predominantemente tida como um valor absoluto e universal) e porque em seu interior há interesses específicos (idem), os sistemas político e jurídico e a mídia não são imunes a atuar como vetores do golpismo e do autoritarismo – o caso de monta mais recente foi impeachment de 2016, de escandaloso casuísmo. Assim, se hoje predomina a oposição a Bolsonaro nessas entidades, nada garante que amanhã não predomine nelas o golpismo. Eis mais uma razão para que tenhamos uma atitude cética diante do argumento da “solidez das instituições”.
Expediente
Comitê de Redação: Adriana Marinho, Alice Rossi, Gilda Walther de Almeida Prado, Daniel Ferraz, Marcela Proença, Rosa Rosa Gomes.
Conselho Consultivo: Carlos Quadros, Dálete Fernandes, Felipe Lacerda, Fernando Ferreira, Frederico Bartz, Lincoln Secco, Marisa Deaecto, Osvaldo Coggiola, Patrícia Valim.
Publicação do GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia Política) / FFLCH-USP
Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Sala H4. São Paulo/SP. CEP: 05508-000
Email: maboletim@usp.br

