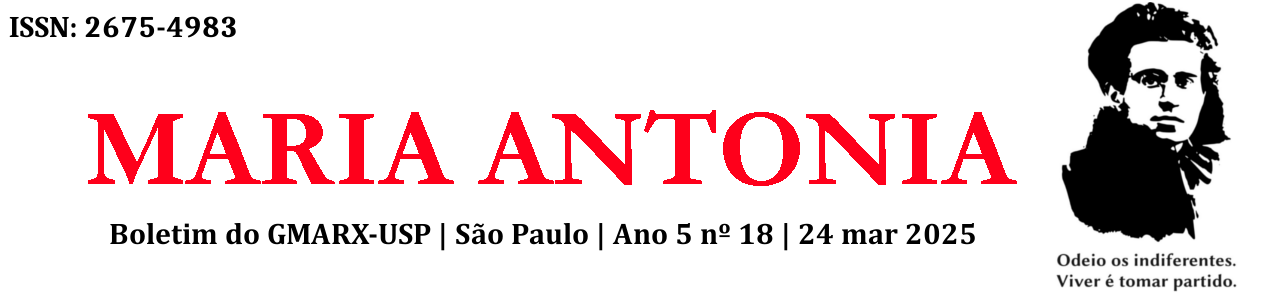
Mundo acadêmico...
A INVENÇÃO E A RESSIGNIFICAÇÃO DO NORDESTE: UM DEBATE EM ABERTO
Wander Lima
Mestre em História Econômica - USP
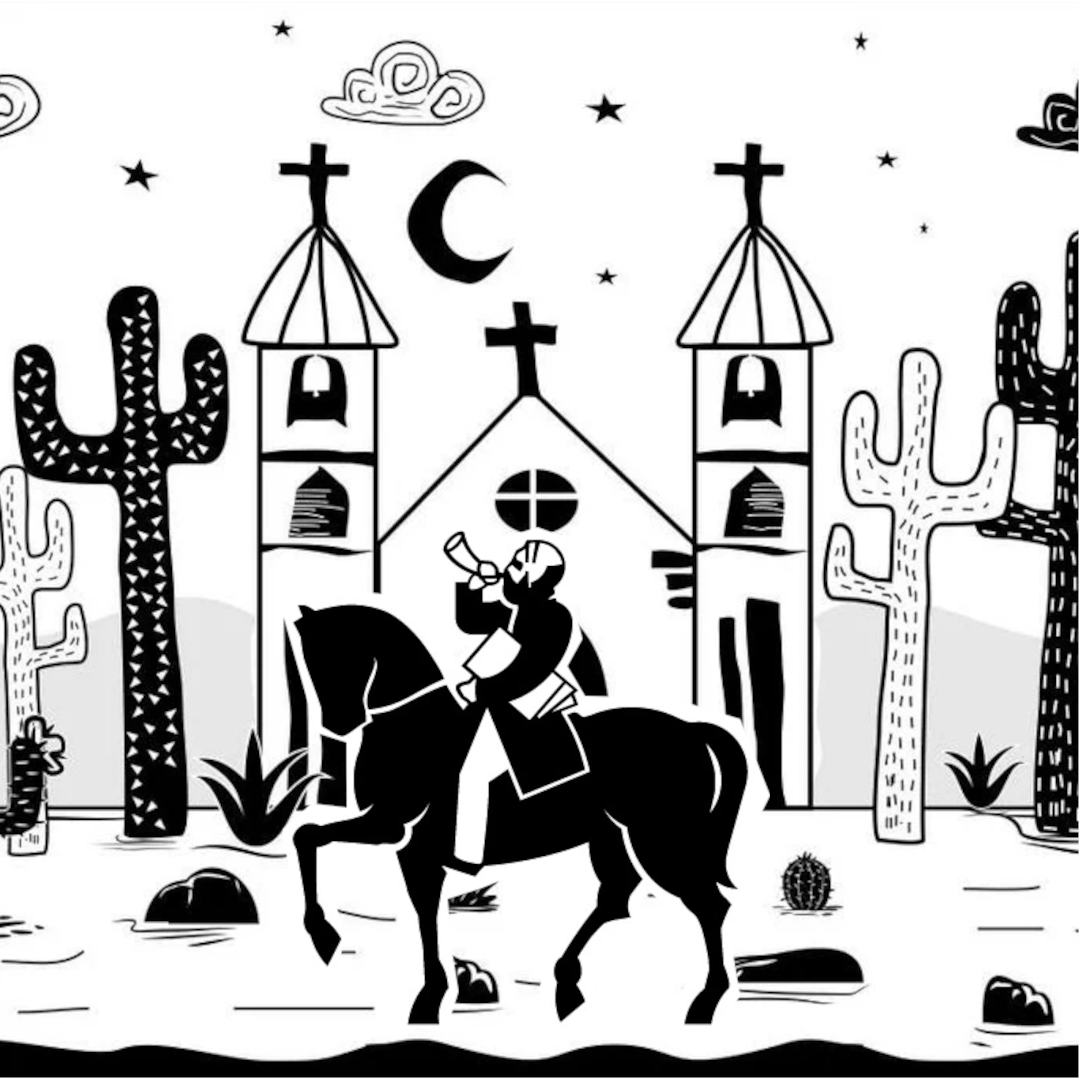
Montagem: Antonio B. Canellas
Introdução
O Nordeste brasileiro não é mero locus geográfico, uma vez que foi atribuída a essa região uma série de significados e, sobretudo, constituída uma – ou várias – identidade/es. Nos últimos anos, observamos como é inventada constantemente uma série de visões e interpretações sobre o que é o Nordeste e como supostamente é caracterizado nessas narrativas o ethos do povo nordestino. Basta acompanhar detidamente as eleições presidenciais, com as vitórias sucessivas do Partido dos Trabalhadores (PT), entre 2006 e 2014, e na última, em 2022, para compreender esse Nordeste inventado, seja pela oposição ao PT, como também nas mídias hegemônicas e em determinados setores sociais, principalmente nos residentes do Sudeste e Sul do país.
Não é objetivo aqui discutir essa longa duração da invenção do Nordeste, mas apontar um recorte histórico específico desse processo de construção da região a partir da seguinte dicotomia: a invenção e a ressignificação. Isto é, assim como hoje o Nordeste é inventado, existe também, hoje, o ressignificar, que consiste em atribuir e instituir um novo significado e sentido para a região. Esse processo de disputa que ocorre no tecido político e social do Brasil parte justamente dos enfrentamentos e das crises que acometem o país, marcado por profunda desigualdade social, política e regional[1].
Na década de 1920, em um contexto de crise política, o Nordeste foi alvo de uma série de visões depreciativas, interpretações essas propaladas pelo jornal O Estado de São Paulo (Oesp), instituição essa que representava setores da elite paulista. As narrativas e discursos sobre a região nordestina carregavam forte teor político. Todavia, na década seguinte, com figuras como Gilberto Freyre e Djacir Menezes, um “Outro Nordeste” foi construído, à revelia daquele difundido pelo Oesp.
O que é o “Nordeste”?
Qual a origem da denominação “Nordeste” para esse recorte específico do Norte do país? O “Nordeste”, enquanto ideia ou mesmo conceito, remonta ao início do século passado. Esse termo seria gestado para atribuir determinadas características que moldariam uma “unidade regional”. Assim, os estados nordestinos carregariam consigo aspectos políticos, econômicos e sociais em comum. Uma importante referência historiográfica no referido assunto é o historiador Durval Muniz Albuquerque Jr., que nos oferece pistas para localizar e indicar quando o uso do termo “Nordeste” se fez presente no linguajar e no imaginário brasileiro[2].
Chamar essa região de “Nordeste” era se referir aos estados que sofriam com a calamidade da seca, na época, compreendendo os estados de Alagoas ao Ceará. Com objetivo de combater a seca, foi criado em 1919 o Instituto Federal de Obras de Combate à Seca (Ifocs), e com a sua atuação na vida política brasileira, o uso do termo “Nordeste” se tornava rotineiro, cristalizando-se na década de 1920. Como dito, os anos 1920 foram cruciais para esse processo e a calamidade da seca foi o instrumento primordial. Desse modo, esse “Nordeste” foi discutido de maneira intensa nas décadas de 1920 e 1930, a partir da dicotomia abordada anteriormente, entre o inventar e o ressignificar.
A invenção e a ressignificação
Assim, cabe apontar alguns expoentes desse processo de construção da identidade regional nordestina. Primeiramente, localizando e indicando o processo de inventar, propiciado pelo jornal O Estado de São Paulo. Esse jornal foi fundamental no processo de invenção do Nordeste, uma vez que, interessado em divulgar a região, promoveu viagens aos estados nordestinos e publicou uma série de artigos e textos discutindo os problemas recorrentes nesses estados.
Entre esses escritos, podemos destacar o conjunto de textos de Paulo de Moraes Barros, Impressões do Nordeste brasileiro (1923), e de Lourenço Filho, Juazeiro de Padre Cícero (1927-1928). Muitos outros artigos e textos foram publicados ao longo da década de 1920[3], mas para a finalidade deste artigo, fiquemos apenas com os dois citados. Tanto Paulo de Moraes Barros como Lourenço Filho olhavam para o Nordeste de um ponto de vista generalizante, construindo um discurso pautado na lógica da “superioridade regional”. São Paulo, dessa forma, seria o espaço do progresso, e o Nordeste, em contrapartida, do atraso.
Conforme a publicação de agosto de 1923, o ethos do povo nordestino e, com isso, a região em si, é caracterizado por Barros como:
‘‘essa gente (…) supersticiosa e fatalista (…)
o próprio Nordeste (…) se assemelhe um tanto á curatela de um grande asylo nacional”[4]
Ao longo dos outros textos, Barros reforça esse Nordeste atrasado, dependente do Sul do país, sobretudo de São Paulo. Inclusive o autor sugere, como solução a tais problemas, injetar “sangue europeu” na população nordestina, e além disso, a defesa de uma política migratória europeia para enfrentar a influência negra na região. A apatia, a superstição e o fatalismo são marcas desse Nordeste inventado por Barros. Não muito diferente, Lourenço Filho corrobora para esse processo de invenção:
“Ao brasileiro do Sul – habituado a cenas de renovação constante, à ebulição fervilhante de progresso nas cidades cosmopolitas (…), a impressão primeira, quando pelo Nordeste se interne, é a de que vai, como num sonho, recuando pelo tempo’’[5]
O Nordeste inventado por Lourenço Filho é o contraponto ao progresso vivenciado em São Paulo. Para esse autor, a região nordestina é marcada pelo atraso, pela presença constante do fanatismo religioso, expresso na figura de Padre Cícero, e em seus textos tudo é sinônimo de atraso, de “recuo” no tempo. A razão, por exemplo, não é rotineira nesse espaço decadente. Inclusive, para o autor, o sertão é o espaço que determina a difusão da ignorância para o Nordeste.
O jornal Oesp, a partir de autores e de viagens promovidas ao Nordeste, vai ser difusor, então, de imagens depreciativas sobre a região e o povo nordestino. Em suas interpretações e visões divulgadas, a região, por ser mestiça, por exemplo, carregaria um forte entrave que impossibilitaria o seu progresso. Nesse processo, o povo nordestino seria apático, sedicioso, fanático, desprovido de razão e naturalmente inferior, enquanto o paulista, formado a partir do branco europeu e do bandeirante[6], seria superior, dotado dos melhores atributos civilizacionais. O povo paulista, para o jornal, deveria guiar o Brasil rumo ao progresso, inclusive tutelando o Nordeste.
Nessas postulações reside o ato de inventar, pois imbuído da suposta superioridade regional, o jornal paulista homogeneizou e colocou o Nordeste como sinônimo de atraso, e naquela ocasião, o Oesp representava setores da elite paulista, desgostosos com os gargalos da busca por hegemonia política. O jornal, como instrumento dessas elites em São Paulo, almejava difundir uma ideia de que São Paulo era a “locomotiva” do Brasil, com intento de impor seus interesses econômicos e políticos ao país, de maneira a alcançar a hegemonia política[7].
A década de 1920 foi atravessada por uma profunda crise nas estruturas políticas e sociais, fruto das fraturas do federalismo construído na Primeira República, onde as oligarquias paulistas disputavam o poder político com as oligarquias do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba. Inclusive, São Paulo teve como oposição o estado de Minas Gerais, que se aliou ao Rio Grande do Sul nas eleições de 1930, com o objetivo de interromper a construção da hegemonia política paulista.
O Nordeste inventado, portanto, não foi somente fruto das secas, mas também da conjuntura política do final da Primeira República. São Paulo era o que o Nordeste não era, e essa narrativa se combinaria no discurso de mostrar para os estados rivais de São Paulo a sua suposta superioridade e capacidade de liderança. Contudo, essa disputa de hegemonia, fruto das fraturas do federalismo brasileiro, resultaria no processo de ressignificação do Nordeste.
Antes de falar da ressignificação, é notório pontuar que a hegemonia buscada por São Paulo dialoga com os preceitos levantados pelo intelectual italiano Antônio Gramsci em seu intento de definir e discutir o que é “hegemonia”[8]. Assim, a hegemonia é um exercício de poder, quando uma classe almeja coordenar não somente os seus interesses enquanto classe dominante, mas também dos subalternos e classes dominadas. Uma classe dominante, portanto, dirige todas as outras, fazendo de seus interesses algo “universal”. Todavia, no intento de alcançar o consenso, ela procura incorporar os interesses dos dominados. O Oesp, ao se “preocupar” com as secas, estava interessado em coordenar e dirigir demandas políticas dos estados nordestinos, inclusive tendo controle das verbas orçamentárias e transmitindo para o país uma imagem de tutela, capaz de solucionar os problemas recorrentes no Nordeste.
Entretanto, nessa disputa contra a hegemonia paulista, se colocaram alguns intelectuais nordestinos, imbuídos do desejo de se contrapor às imagens e interpretações imputadas por São Paulo ao Nordeste. Com isso, a ressignificação, isto é, propiciar um outro sentido e significado, parte de uma “revolução simbólica” contra o Nordeste inventado. O intelectual francês Pierre Bourdieu, ao propor a ideia de “discurso performativo” no debate sobre regionalismo, aponta que essa “revolução simbólica” corresponde a uma ação de ressignificar, de dar um outro sentido a algo, buscando se apropriar de uma identidade legítima estigmatizada pelo outro.
Intelectuais como Gilberto Freyre e Djacir Menezes[9], por exemplo, na década de 1930, discutiram os mesmos temas que eram privilegiados pelo Oesp. Inclusive, Freyre e Menezes citaram Paulo de Moraes Barros e Lourenço Filho, apontando as profundas discordâncias com as interpretações propaladas pelo referido jornal. Esses dois autores nordestinos ganham aqui destaque por ilustrar esse processo de ressignificação, sobretudo porque trabalharam de maneira coordenada, embora tenham discutido espaços diferentes e ressignificado o Nordeste de maneira muito distinta.
Em relação a Gilberto Freyre, vale aqui sublinhar suas críticas a Paulo de Moraes Barros. Em 1925, no artigo publicado no Diário de Pernambuco, “Vida social no Nordeste”[10], Freyre pontua sua discordância:
“O sr. Moraes Barros (…), o observador paulista, em livro recente sobre o Nordeste, confessa ter achado feio tanto o typo do “branco tostado” como o do “cabra disfarçado” e do “negro” que aqui encontrou em dois meses de rápido e ás vezes superficial estudo”[11]
Freyre, ainda em 1925, sugere que o estudo proposto por Barros foi “rápido” e “superficial”, apresentando sua divergência. O olhar de Barros era de que a mestiçagem determinava elementos responsáveis pelo atraso do Nordeste. Todavia, para Freyre, a mestiçagem e o papel do negro na formação do Brasil propiciaram a criação de uma “beleza” nova, além dos atributos fisiológicos e de caráter social e econômico que nada têm de negativo ou depreciativo para o Nordeste ou o Brasil. No ano de 1926, Freyre publicou outros artigos[12], textos esses que, em diálogo, apresentam um outro Nordeste daquele do Oesp e de Barros; isto é, esse “Outro Nordeste” é berço de um Brasil mais “brasileiro”. A culinária, a “nova beleza”, a arquitetura, a paisagem, a sociabilidade e a ausência de “estrangeirismo”.
Do Manifesto regionalista (1926) à obra Nordeste (1937), é possível identificar o amadurecimento das ideias freyreanas. Em Casa-grande e senzala, o autor discute as influências do indígena na formação da família brasileira e o papel do negro na configuração social do Brasil. Trabalhando, portanto, com tais temáticas, Freyre colocava o Nordeste em uma outra posição diante dos pressupostos levantados pelo Oesp; ou seja, a região nordestina foi fundamental para a formação social do Brasil a partir da influência do indígena e do negro. Estavam no Nordeste os elementos fundantes de algo original, que daria uma identidade ao Brasil. Em Nordeste, Freyre assevera seus pensamentos sobre a região, uma vez que reitera visões como o fato do homem nordestino ser fundamental para o progresso da região e do Brasil, não sendo “apático”, como propalado pelo Oesp.
A miscigenação, a influência ibérica portuguesa, o papel do negro e a civilização do açúcar que se instalou no período colonial seriam fundamentais para a construção do Brasil, olhar esse totalmente oposto daquele difundido por Paulo de Moraes Barros e Lourenço Filho. Nesse processo, temos em 1937, sob direção de Gilberto Freyre, a partir do intelectual cearense Djacir Menezes, o livro O outro Nordeste: formação social do Nordeste, onde apresenta-se uma série de discordâncias com Freyre, uma vez que sua metodologia, espaço de análise e interpretação sobre o Nordeste são diferentes.
Na obra em questão, Menezes trabalha com o sertão cearense, diferente de Freyre, com o mundo açucareiro. Em contraposição aos olhares depreciativos do Oesp, para Menezes, a situação de miséria que acomete o sertão nordestino é fruto das condições políticas, naturais e econômicas impostas ao homem do Nordeste. A partir de uma perspectiva materialista marxista, o legado colonial, a estrutura econômica e o domínio político dos coronéis, responsáveis pelo quadro de exploração, foram cruciais para a situação do sertão nordestino. Muito diferente do Oesp, defensor de uma visão naturalista que determinava a posição marginal do Nordeste, para Menezes, o “homem real” na região é aquele que luta contra as injustiças e sofre com a exploração.
Inclusive, assim como Gilberto Freyre menciona Paulo de Moraes Barros, Djacir Menezes menciona Lourenço Filho, mostrando que leu seu livro sobre Juazeiro. No momento citado, Menezes mostra sua discordância com Lourenço Filho a partir da análise feita sobre Padre Cícero:
“Retrato literário, pintado pelo escritor paulista, é realmente irreconhecível o velho que nós vimos, sem qualquer ação pessoal forte, sem nenhuma facies de misticismo chamejante. Igual a qualquer padre velho do sertão”[13]
Menezes discorda profundamente na análise sobre o Padre Cícero, colocando o famoso eclesiástico como fruto do meio. A fervorosa religiosidade de Juazeiro, para Menezes, era parte da realidade de um espaço marcado por injustiça social, sendo a religião a única forma de profundas mudanças. Notando essas citações, observa-se que esses autores conheciam os textos publicados pelo Oesp, e a partir delas, buscaram construir uma outra identidade sobre a região, ressignificando.
O Nordeste, para Gilberto Freyre e Djacir Menezes, não é aquele somente da seca, da miséria ou acometido pela miscigenação, um espaço naturalmente violento e decadente. Embora seja notório que critiquemos as visões de Freyre, sobretudo no que tange à figura do negro, não se descarta que, naquele momento, suas ideias iam de encontro ao racismo científico e as ideias de eugenia que ecoavam nos pressupostos do Oesp em relação ao Nordeste. Freyre e Menezes marcam um processo significativo de ressignificar; eles não inventaram. Esses autores lançaram outros significados e sentidos para a identidade regional nordestina.
Nenhum desses autores almejavam um “prestígio” social com a “criação” do Nordeste; buscavam, na realidade, desconstruir e desmitificar as narrativas levantadas por setores da elite paulista, que “inventaram” um Nordeste atrasado e inferior. Embora esses autores nordestinos tivessem metodologias e olhares distintos, fomentaram um Nordeste ressignificado, atribuído de outras características e de uma outra existência. Cabe também ressaltar que esses autores atuaram decisivamente na política nacional da época, buscando mudanças para o Nordeste[14].
Conclusão
O debate sobre o Nordeste segue em aberto até os dias de hoje, sobretudo, como dito anteriormente, nos períodos eleitorais para a Presidência da República. Os elementos depreciativos nos discursos do Oesp parecem ecoar até os dias de hoje, e notamos isso, principalmente, na racialização do Nordeste, nos estereótipos e na xenofobia constante. A aparente semelhança entre os discursos do jornal e os proferidos atualmente, sinaliza apenas um ecoar dessas visões, uma vez que, na atualidade, existem questões novas no horizonte sobre a invenção e a ressignificação. Existem diversos “Brasis”, assim como diversos “Nordestes”.
A ressignificação ocorre, como Pierre Bourdieu coloca, impulsionada pela revolta contra as representações simbólicas criadas por um grupo dominante. A reivindicação regionalista ocorre por causa da noção de “espaço estigmatizado”. Gilberto Freyre e Djacir Menezes enfrentaram o Nordeste inventado, negando-o. Por outro lado, ressalta-se que esse Nordeste inventado por Paulo de Moraes Barros e Lourenço Filho foi fruto de um contexto de busca por hegemonia política por parte de setores da elite paulista. Na atual conjuntura, como dito, há outras questões em jogo, mas é fundamental compreender que o Nordeste, enquanto espaço, é parte de uma forte disputa, e desse processo, ficamos entre as invenções e os “Outros Nordestes”.
Bibliografia
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. Nordestino: a invenção do “falo”. São Paulo: Intermeios, 2003;
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. São Paulo: Cortez, 2021.
BARROS, Paulo de Moraes. Impressões do Nordeste brasileiro. São Paulo: Monteiro Lobato, 1924.
BORDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Difel, 1989.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2006.
FREYRE, Gilberto. Livro do Nordeste: comemorativo do primeiro centenário do Diário de Pernambuco. Ed. fac-similar. Recife: Cepe, 2005.
FREYRE, Gilberto. Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1989.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: volume 5: o risorgimento: notas sobre a história da Itália. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
LIMA, Wandercleyber. Impressões do Nordeste: hegemonia, intelectuais e imprensa no debate regional nos anos 1920 e 1930. Dissertação (Mestrado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.
LOURENÇO FILHO, Manuel Bergstrom. Juazeiro de Padre Cícero. São Paulo: Melhoramentos, 1959.
MENEZES, Djacir. O outro Nordeste: formação social do Nordeste. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1937.
[1] As reflexões discutidas neste texto foram pensadas e elaboradas com maior profundidade na pesquisa que desenvolvi no mestrado, concluído em 2024: LIMA, Wandercleyber. Impressões do Nordeste: hegemonia, intelectuais e imprensa no debate regional nos anos 1920 e 1930. Dissertação (Mestrado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2024, p.158.
[2] ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. Nordestino: a invenção do “falo”. São Paulo: Intermeios, 2003; ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. São Paulo: Editora Cortez, 2021.
[3] Como mostra o acervo digital do jornal Oesp. Entre 1920 e 1929, o jornal cobriu o fenômeno do cangaço, seção essa intitulada por “banditismo no Nordeste” (1927), e divulgava os gastos públicos com as obras de combate à seca. Publicou também o conjunto de textos intitulado “Impressões de São Paulo” (1925-1926), entre muitos outros.
[4] Paulo de Moraes Barros, “Impressões do Nordeste”, Oesp, 10/08/1923.
[5] Manuel Lourenço Filho, “Em caminho”, Oesp, 17/11/1925.
[6] Autores como Oliveira Vianna e Paulo Prado ajudaram a reforçar esse tipo de visão sobre o “paulista”.
[7] É importante frisar que São Paulo detinha a hegemonia econômica, mas não a política.
[8] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: volume 5: o risorgimento: notas sobre a história da Itália. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
[9] Na dissertação de mestrado, abordei outras interpretações de intelectuais nordestinos, como as de Câmara Cascudo, Josué de Castro e Graciliano Ramos.
[10] Esse texto foi influenciado diretamente pela sua dissertação de mestrado de 1922, intitulada Social life in Brazil in the middle of the 19h century, defendida na Universidade de Columbia.
[11] FREYRE, Gilberto. Diário de Pernambuco, 1925, p. 90.
[12] Ver: “Impressões de Pernambuco”, “Ação regionalista no Nordeste”, “O Nordeste separatista?” e “São Paulo separatista?”, em Diário de Pernambuco.
[13] MENEZES, Djacir. O outro Nordeste: formação social do Nordeste. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1937, p. 178.
[14] A exemplo de Gilberto Freyre, intelectual esse presente nos bastidores da política brasileira, inclusive a obra Nordeste influenciou a fundação do IBGE.
- Resumo
-
O Nordeste brasileiro não é apenas uma região com determinado recorte geográfico. Isto é, ao "Nordeste" foi atribuída uma série de características políticas e sociais, e desse processo destacamos a invenção e a ressignificação da dita região. Esse artigo tem como finalidade apresentar brevemente o processo de invenção e ressignificação da região nordestina entre as décadas de 1920 e 1930.
Palavras-chave: Nordeste; São Paulo; Identidade regional
- Abstract
-
The Brazilian Northeast is not just a region with a specific geographical delineation. That is, the "Northeast" was attributed a series of political and social characteristics, and from this process, we highlight the invention and re-signification of the so-called region. This article aims to briefly present the process of invention and re-signification of the northeastern region between the 1920s and 1930s.
Keywords: Northeast; São Paulo; Regional identity
Comitê de Redação: Adriana Marinho, Clara Schuartz, Gilda Walther de Almeida Prado, Giovanna Herrera, Marcela Proença, Rosa Rosa Gomes.
Conselho Consultivo: Carlos Quadros, Dálete Fernandes, Felipe Lacerda, Fernando Ferreira, Frederico Bartz, Lincoln Secco, Marisa Deaecto, Osvaldo Coggiola, Patrícia Valim.
Publicação do GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia Política) / FFLCH-USP
Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Sala H4. São Paulo/SP. CEP: 05508-000
E-mail: maboletim@usp.br

