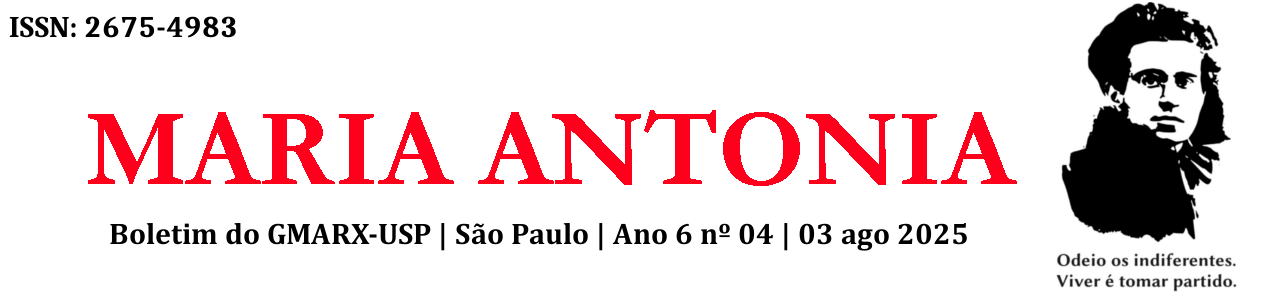
Mundo acadêmico...
A Revolução Adiada e o Fim do Ciclo Econômico Expansivo (1968-1975)[1]
Lincoln Secco
Professor de História - USP

Fonte: Bundesarchiv Bild 183-H25292, Cartazes para compra de mercadorias.
Do fim da II Guerra Mundial até 1975 a história do capitalismo iludiu muita gente. Parecia que um capital domesticado podia conviver com prosperidade crescente e distribuição da renda. A recessão de 1974/75 evidenciou o que estava oculto: ela encerrou uma fase de queda da taxa de lucro que se tornava inaceitável para os empresários. Nos EUA a taxa de lucro das sociedades não financeiras caiu de 16,2% (antes de contar os impostos) em 1948 a 10,5% em 1973[2].
A expansão dos trinta anos gloriosos do pós guerra resultou da excessiva exploração da força de trabalho na II Guerra. A classe operária, com grande participação feminina, trabalhou em longas jornadas na retaguarda. Segundo Mandel, a massa de mais-valia obtida permitiu o investimento em equipamento e a incorporação de inovações técnicas. Assim, o incremento da taxa de exploração e os super lucros dos monopólios “tecnologicamente de ponta” permitiram uma longa fase de elevação da composição orgânica do capital e dos salários[3].
Com a gigantesca escala de produção no século XX, a procura de bens de consumo teria deixado de condicionar a acumulação capitalista, tornando-se uma procura de capital. Assim, a acumulação só pode ser de bens de investimento, pois bens de consumo não são acumulados. São consumidos e desaparecem[4]. A compra de bens de capital (ou seja, o investimento) torna-se a variável determinante da acumulação capitalista. Novos investimentos implicam aumento do emprego e da própria procura por bens salários.
A produção de mais-valia precisa ser realizada no mercado. No entanto, as empresas e ramos de produção têm diferentes composições orgânicas: umas têm mais capital investido em máquinas e matérias primas por trabalhador, outras o inverso. As primeiras deveriam ter uma taxa de lucro menor posto que o valor adicionado no processo produtivo só pode ser gerado por trabalhadores.
Na concorrência perfeita, que é apenas um tipo ideal e muito “perigoso” na expressão de Kalecki, os investidores acorreriam para os ramos mais lucrativos, aumentando a concorrência neles, reduzindo a rentabilidade e equalizando a taxa de lucro. Todavia, isso não é viável no capitalismo monopolista. Assim há uma perequação da taxa média de lucro na esfera da circulação[5].
Os valores de cada ramo não se exprimem em preços correspondentes. Uma mercadoria de um ramo monopolista pode ser vendida acima do seu valor, permitindo que haja uma rentabilidade suficiente para os capitalistas daquele setor. Há uma extensa discussão teórica sobre o problema da transformação do valor em preço de produção, mas o fato é que ela não pode ser verificada empiricamente, pois os agentes fazem, mas não o sabem, como diria Marx.
Ciclos Econômicos e Lutas de Classes
No pós guerra houve uma onda grevista nos países desenvolvidos. No Reino Unido o número de greves saltou de 1.785 em 1943 para 2.194 em 1944 e 2.293 em 1945, especialmente entre mineiros e metalúrgicos[6]. Na Itália as greves tiveram tendência crescente até 1975, acompanhando a fase ascensional do ciclo econômico (Gráfico 1). Sem isso, a classe operária não teria obtido ganhos nos trinta anos gloriosos.

O longo ciclo expansivo do capitalismo do pós guerra deu-se numa arquitetura institucional que garantia o multilateralismo entre os países ricos. Os EUA confiavam no comércio livre para exportar seu excesso de produção do pós guerra e os europeus queriam manter altas taxas de investimento para retomar a própria produção industrial[7] e garantir alguma distribuição de renda diante do ranger de dentes de seus trabalhadores que haviam voltado de uma guerra catastrófica e exigiam um Estado de Bem Estar Social.
Apesar dos acordos de Bretton Woods, o governo dos EUA nem tentou aprovar a criação de uma Organização Mundial do Comércio no Congresso. Acordos parciais foram feitos a partir de 1947 nas rodadas de um Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt: General Agreement on Tariffs and Trade). Já a circulação dos capitais foi bastante controlada pelo menos até o final dos anos 1950.
O controle de capitais foi desenhado para manter a estabilidade cambial, evitando entradas e saídas bruscas de grande quantidade de moeda estrangeira em algum país. O dólar foi fixado a U$35 a onça de ouro. Inicialmente os EUA estimularam a economia europeia para que ela pudesse comprar seu excesso de produção do pós guerra. Nesse período Alemanha, Itália e Japão tornaram-se grandes produtores de manufaturados e se valeram da decisão do Gatt de não incrementar tarifas sobre produtos não agrícolas. Mas com o passar dos anos, a recuperação europeia produziu a drenagem de dólares dos EUA para o exterior, o que deteriorava os estoques de ouro estadunidenses proporcionalmente aos dólares emitidos e gerava reclamações dos europeus: como referenciar suas moedas numa outra que mantinha seu valor artificialmente?
O padrão dólar-ouro se baseava no princípio de que se houvesse inflação num país e o dólar estivesse muito valorizado, o governo deveria impor a velha ortodoxia: cortas gastos, aumentar juros, restringir o consumo e, assim, derrubar os preços. Nos EUA se o dólar estivesse desvalorizado, um aumento nos juros traria investimentos em títulos estadunidenses, aumentando a procura por dólares e valorizando a moeda[8].
A Guerra Fria teve como seu framework a regulamentação financeira. A contradição acima citada ficou conhecida como paradoxo de Triffin: se os EUA equilibrassem seu balanço de pagamentos, ou seja, reduzissem seu déficit com a Europa e o Japão, faltariam dólares no comércio internacional; mas se não fizessem aquilo, os dólares emitidos superariam em demasia o valor do seu lastro metálico. Essa contradição do sistema de Bretton Woods levou o Presidente Richard Nixon a renunciar a converter dólares em ouro, em 1971[9].
O fim da conversibilidade das moedas nacionais em ouro favoreceu a flexibilização do câmbio. Isso aumentou o poder do capital sobre os governos. Segundo Paul Singer a origem dessa mudança estava no Euromercado iniciado por empresas soviéticas que vendiam em dólares no exterior e não queriam ter seus dólares confiscados pelos EUA. Uma empresa soviética podia receber na Alemanha marcos alemães ou dólares e depositá-los num banco inglês sem nenhum controle[10].
Entre o começo dos anos 50 e os anos 70, o comércio mundial de manufaturados foi multiplicado por 10. Até 1973, os EUA exportavam pouco menos de 8% do seu PIB[11]. No período posterior aos anos 70, a economia entrou numa fase recessiva. As taxas médias anuais de crescimento da economia mundial, acumuladas no período 1950-73, foram de 4,9%, em contraste com o período 1973-92: 3,0%[12].
O colapso de Bretton Woods deixou o câmbio livre o suficiente para os países imperialistas estimularem suas economias. A economia mundial crescia de 15 a 20% entre 1970 e 1973 e a base monetária cerca de 40% nos EUA e 70% na Grã-Bretanha[13].
Revoluções
Em meio ao esgotamento do ciclo expansivo da economia, Maio de 1968 abriu uma vaga revolucionária mundial até 1975, quando os EUA se retiraram do Vietnã e a Revolução Portuguesa resfriou. Comunistas ingressaram em governos, revoluções eclodiram e o socialismo real parecia inabalável. Em 1970 certamente todos os países socialistas europeus tinham um padrão de vida e uma base industrial superior ao de vinte anos atrás. A planificação econômica centralizada parecia o melhor modelo de desenvolvimento para os novos países independentes da África e Ásia e, na América Latina (ao menos nos grupos políticos radicais), fervilhavam as esperanças de derrubada das ditaduras pela via armada. Na Europa, o final da década de 1960 marcou o zênite de uma linha crescente de greves desde seu início. Na França houve 150 milhões de jornadas de trabalho perdidas em 1968[14]. Embora as greves tenham declinado lá, na Itália a conflitualidade se manteve elevada até 1975.
Onde havia democracia, a classe operária se movia por greves. A Itália é o caso aqui escolhido por abrigar o maior partido comunista ocidental, alta taxa de sindicalização e elevado e radical conflito operário entre 1969 e 1975. Ali se desenvolveu uma luta armada incipiente e intermitente em alguns casos com recrutamento entre operários. Como vemos no Gráfico 2, ano de 1969 foi o marco do chamado outono quente.

Apesar de passado o clímax da onda de rebeldia nos países desenvolvidos, nos EUA as greves saltaram de 5.353 a 6.074 de 1973 a 1974[15]. Na Itália a conflitualidade sindical permaneceu alta e em Portugal, devido à Revolução dos Cravos, houve uma onda de greves e ocupações no primeiro semestre de 1974.
De 1974 até 1979 foram perdidos 12 milhões de dias de trabalho no Reino Unido, mais que o triplo dos índices das décadas de 1950 e 1960. Os sindicatos italianos conseguiram atrelar seus salários à inflação, na Alemanha o capital cedeu à participação dos operários em algumas decisões administrativas e, na Suécia, em 1975 o Plano Meidner destinou parte dos lucros, na forma de ações, para os sindicatos. Os governos criaram empregos públicos e até 1983 os governos das nações desenvolvidas respondiam por 20% de todos os empregos em média[16]. O déficit orçamentário resultante era atraente, porque os governos conseguiam dinheiro a taxa de juros negativas (abaixo da inflação).
Os impostos também subiram para sustentar o edifício social. Em 1939 todas as taxas federais dos EUA representavam 7,6% da renda nacional. Em 1965, as 24 nações mais desenvolvidas coletavam em média 24,8% da renda nacional e em 1973, com o crescimento dos gastos sociais, 28%. Isso atingiu 31% em 1977. No caso da Suécia, 45% de cada Coroa ganha pelos suecos eram arrecadados pelo Estado[17].
As conquistas reformistas, no entanto, seriam em parte desfeitas e serviriam para resfriar o ímpeto operário.
A Contrarrevolução
Quando os preços do petróleo dispararam em 1973, países como Arábia Saudita e Líbia injetaram seus petrodólares nos bancos do chamado Primeiro Mundo. Como a economia já estava em recessão e sem estímulo ao investimento, os bancos emprestaram aquelas quantias ao Terceiro Mundo a juros baixos. Já se falava nos limites ecológicos do crescimento econômico, mas os países avançados não estavam interessados em repartir seus lucros com os subdesenvolvidos. Estes, por sua vez, precisavam aumentar a renda de sua população.
A OPEP direcionou os petrodólares oriundos do aumento do preço do barril aos bancos internacionais que emprestaram aos países que estavam se industrializando para que eles pudessem comprar petróleo e equipamentos dos países desenvolvidos. Foram 200 bilhões de dólares entre 1974 e 1980[18].
O desenvolvimento da periferia consumia bens de capital já obsoletos no centro do sistema. Assim, a dívida externa do Terceiro Mundo permitiu o último ciclo expansivo de sua indústria. Embora visasse em certos casos substituir até mesmo a importação de alguns bens de capital, a ilusão durou pouco. A elevação dos juros nos EUA em 1979 destruiu aquele sonho de uma noite de verão.
O choque Volcker duplicou as taxas de juros de curto prazo. A inflação diminuiu e os investidores financeiros ganharam, mas o custo dos empréstimos para as empresas aumentou e elas buscaram diminuir o custo da mão de obra. Os salários reais nos EUA em 1993 estavam 15% abaixo dos níveis de 1978[19].
De 1950 a 2010 a produtividade aumentou 254,3% e o pagamento aos trabalhadores por hora 134,1%. O ano de 1980 marcou a discrepância entre produtividade e salários nos EUA. Mas no período dos trinta gloriosos, produzidos pelo efeito da II Guerra Mundial, da criação do bloco socialista e das lutas anticoloniais, os ganhos de produtividade foram melhor repartidos entre trabalhadores e empresários[20]. O Gráfico 3 mostra o gap entre produtividade e salários na fase ascensional do ciclo de Kondratiev; em seguida na crise dos anos 1970 e, depois, na época neoliberal.

Os salários foram ajustados pelo índice de preços ao consumidor, porque isso reflete os preços dos produtos e serviços efetivamente consumidos pelos trabalhadores, já a produtividade foi ajustada pelo deflator do PIB. Os economistas conservadores argumentam que as duas medidas deveriam ser ajustadas pelo deflator do PIB[21], mas eles não sabem o que comem, vestem e onde moram os trabalhadores[22].
O ciclo econômico se imbrica com os ciclos políticos e a virada de uma fase ascensional para a depressão pode desencadear uma situação revolucionária, onde as condições institucionais (democracia) e/ou força organizativa do movimento operário o permitem. E foi isso o que aconteceu, segundo a hipótese aqui defendida. Houve uma ameaça geral tanto à burguesia dos países capitalistas quanto à burocracia nos países socialistas, mesmo que depois aqueles movimentos, uma vez derrotados, fossem capturados pelo anticomunismo e individualismo neoliberal.
A taxa média de lucro no período 1946-1988 declinou de uma média de 17,8% nos 10 primeiros anos do período para uma média de 7,0% nos últimos 10 anos do período[23]. O neoliberalismo representou uma retomada do crescimento daquela taxa, mas por breve período. A solução capitalista aparentemente foi a esfera financeira. Em 2007 mais de 40% dos lucros das empresas vinham do setor financeiro e somente 10% em 1980[24]. Mas isso causou muita confusão entre a exposição histórica e a lógica na obra de Marx.
Historicamente, o capital comercial e portador de juros (usurário) precedeu o produtivo (industrial), ou seja: só depois de dominar a circulação, as bolsas e as extensas rotas de comércio, o capital se apropriou plenamente da produção de riqueza. Mas uma vez estabelecido como modo de produção tendencialmente mundial, o capital que parece surgir da circulação subordina-se ao capital industrial, de modo que o lucro comercial, ganhos acionários, juros etc. são apenas uma dedução da mais-valia criada na esfera produtiva[25]. A diminuição dos salários reais e o aumento da produtividade na era da globalização geraram os lucros que se multiplicam nos mercados de ações, aí sim como capital inteiramente fictício.
O Reformismo Impossível na Periferia
Nos trinta gloriosos, o Terceiro Mundo supria apenas 7% das exportações mundiais de manufaturados. Sua industrialização, entretanto, exigia um volume crescente de divisas para importar bens de capital, como Prebisch já tinha apontado. Na década de 1970, os países em desenvolvimento buscaram empréstimos vultosos dos petrodólares disponíveis, como vimos. Em 1972, 17 bilhões em empréstimos de bancos e investimentos em títulos fluíram dos países centrais. Esse volume atingiu 128 bilhões em 1978 e 209 bilhões em 1981[26].
A industrialização por substituição de importações necessitava de uma crescente importação e isso gerava desequilíbrio na balança de pagamentos. A escassez de divisas conduzia à restrição de importações não essenciais, aumento dos juros para reter moeda estrangeira, consequente desvalorização da moeda local, inflação e estímulo das exportações (que ficavam mais baratas em dólar). Mas a moeda desvalorizada encarecia os produtos importados… Era um ciclo vicioso.
Quando a economia mundial estava em recessão na década de 1930, Kalecki descreveu o que seria o ciclo econômico capitalista e declarou que se os governos não interviessem com despesas financiadas por empréstimos, o equilíbrio só voltaria num nível muito baixo de atividade. O número de empresas e equipamentos poderia ser drasticamente reduzido pelas falências e, então, a demanda poderia ser atendida aumentando o uso da capacidade instalada das empresas sobreviventes:
“Uma vez aumentada assim a rentabilidade do existente equipamento de capital, o nível de investimento também se elevará. (…)[27].
Isso dará como resultado um acréscimo na produção de bens de investimento e no emprego dos respectivos ramos industriais. Além disso, a expansão da demanda dos trabalhadores recém empregados causará um maior emprego nas indústrias de bens de consumo. Esse aumento geral da produção provoca uma nova elevação da rentabilidade de investimento, uma nova criação de poder de compra etc. Na medida, porém, em que o investimento começa a exceder o nível da necessária reposição do capital fixo (...) então aparecem os fatores que freiam a expansão econômica”.
Assim, o aumento da produção encontra de novo uma demanda insuficiente para prosseguir a acumulação de capital.
Uma vez descrito o ciclo, Kalecki propôs uma política anticíclica em que a insuficiência do investimento privado fosse completada ou substituída por despesas do governo baseadas no déficit orçamentário. Ele chamou isso de “truque financeiro”.
Mais tarde, ele descobriu que o caso das economias subdesenvolvidas era diferente. Não há capital ocioso subutilizado, regra geral. O uso pleno do equipamento, no entanto, será sempre insuficiente para absorver toda a mão de obra disponível. Por isso, o problema não é aumentar o investimento para gerar demanda efetiva, como nos países centrais, mas para aumentar a capacidade produtiva e a renda nacional. O principal obstáculo seria o seguinte: se o investimento ainda assim aumentar, surgirá uma pressão inflacionária pela procura aumentada de gêneros alimentícios, matérias primas etc.
Como há demanda aumentada por bens de consumo essenciais sem que a oferta desses bens cresça, a massa salarial permanecerá inalterada. Ela cresceu em volume, há mais trabalhadores recebendo salário, mas o aumento adicional daquela massa foi dissipado pela inflação dos alimentos, ou seja, o salário real por trabalhador declina. As empresas contratam trabalhadores, mas a um salário real menor devido a inflação. Com o maior nível de emprego, certamente mais trabalho será feito, mais valor será produzido, mas pelo mesmo pagamento em termos reais, “o que é a mais injusta forma de financiar o aumento de investimento”[28].
Embora Kalecki conceba soluções teóricas para tal problema, na prática, considera inexequíveis. A intervenção governamental na esfera do investimento, a superação de barreiras ao rápido desenvolvimento da agricultura (reforma agrária e financiamento dos camponeses) e tributação dos abastados não teriam condições políticas de implementação.
A periferia estaria condenada a duas vias de desenvolvimento: não inflacionária, mas extremamente lenta; ou rápida e sujeita a “violentas pressões inflacionárias” e “tensões políticas” e “ditaduras militares”. O capitalismo moderno aprendeu a mobilizar recursos para superar as crises no mundo desenvolvido. No entanto, no mundo subdesenvolvido os recursos precisam ser construídos e isso requer “mudanças revolucionárias”[29].
Na América Latina, a década perdida de 1980 coincidiu com a democratização e um ciclo grevista, mas isso foi possível porque o modelo vitorioso de crescimento econômico foi lento e moderado, sem grandes pressões inflacionárias após as políticas neoliberais da década seguinte.
Conclusão
Depois de um período de estabilização garantido pelo Plano Marshal na Europa e políticas desenvolvimentistas na periferia, a guerra de movimento voltou à baila mesmo no centro do sistema capitalista no período 1968-1975, como já demonstrei[30].
A Revolução frustrada da década de 1970 demonstrou que o espaço para o desenvolvimento nacional na periferia esgotou-se, mas também que a classe trabalhadora é capaz de impulsos revolucionários em escala internacional. E se os desafios econômicos, como a tributação de capitais sem controle, ou ambientais, como a contenção de uma globalização que impacta o clima, só podem ter solução global, a única classe capaz de fazê-lo é a classe trabalhadora, porque só a forma de inserção nas relações de produção unifica os interesses da maior parte da humanidade, ainda que se devam agregar à centralidade da extração de mais-valia as determinações de gênero, nacionais e outras que acirram a própria exploração. A classe passou do abstrato ao concreto.
[1]Notas de uma aula do curso de História Contemporânea na USP, 1 semestre 2025.
[2]Mandel, E. A Crise do Capital. Campinas: Unicamp, 1990, p. 23.
[3]Id. Ibid.
[4]Mattick, P. Marx e Keynes. Lisboa: Antígona, 2010, p. 105.
[5]Mattick, P. Op. cit., p. 60.
[6]Cella, Primo (org). Il Movimento degli Scioperi nel XX Secolo. Bologna: Il Mulino, 1979, p. 83.
[7]Eichengreen, B. Globalização Do Capital. São Paulo: Ed. 34, 2012.
[8]Frieden, J. Capitalismo Global. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 368.
[9]Levinsson, Marc. Fora da Caixa. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021, p. 72.
[10]Singer, P. Apostila de curso, mimeo, 1996.
[11] Hobsbawm, Eric. “Conjecturas a respeito de mudanças globais”, Novos Rumos, ano 13, nº27, verão de 1998.
[12] Problèmes Economiques, 5 de março de 1997.
[13]Frieden, J. O Capitalismo global. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 388.
[14]Cella,cit. p.325.
[15]Cella, P. Op. cit., p. 471.
[16]Frieden, J., Op. cit., pp. 391-2.
[17]Levinson, M. p. 149.
[18]Frieden, J. Op. cit., p. 395.
[19]Frieden, J. Op. cit., p. 397.
[20]Ford, M. Rise of Robots. N. York: basic books, 2015, p. 38.
[21]Id. ibid.
[22]Por sua vez, a produtividade física do trabalho é um índice importante, mas o que realmente importa é a diminuição do valor da força de trabalho, pois a mais-valia é a diferença entre o valor pago à classe trabalhadora e o valor adicionado por ela na produção; ou entre o tempo em que ela trabalha para si e o tempo que entrega gratuitamente para o capital. O trabalhador recebe o equivalente de produtos que o mantêm disponível para ser explorado; o capital recebe tempo (Mattick, P. Op. cit., p. 152). Se aqueles produtos ficarem mais baratos devido ao aumento da oferta, o valor da força de trabalho pode diminuir, ceteris paribus, e assim a mais-valia aumentar. Por isso, a produção de bens salários não é totalmente indiferente. É verdade que a poupança da classe trabalhadora é desprezível, mas não o seu consumo. Com mão de obra mais barata, o investimento pode propiciar mais valia acrescida. Embora o aumento real dos salários não impeça a acumulação, como a luta de classes demonstrou através das greves. A composição técnica do capital, medida pela relação entre número de trabalhadores e os meios de produção, continua importante. Capital fixo, aquele investido em máquinas, deve durar por vários ciclos de produção e seu retorno é demorado. A depreciação, os juros pelo empréstimo destinado à compra de maquinaria etc. afetam a taxa de lucro. Ou seja, a velocidade de rotação do capital é maior em alguns setores do que em outros.
[23]Cipolla, F. “Taxa de lucro e déficit público nos EUA”. https://doi.org/10.1590/0101-31571992-0688
[24]Roberts, M. The Long Depression. Chicago: Haymarket books, 2016, p. 67.
[25]Jappe, A. Aventuras da Mercadoria. 2 ed. Lisboa: Antígona, 2006, p. 87.
[26]Levinson, M. An Extraordinary Time. Londres: Penguin, 2016, p. 240.
[27]Kalecki, M. Crescimento e ciclo das economias capitalistas. São Paulo: Hucitec, 1980, pp. 21 e ss.
[28]Kalecki, p.137. Lembremos que Kalecki demonstrou que, em certas condições, aumento de salários nos departamentos de bens de capital e de bens de luxo para os capitalistas podem ser perfeitamente compensados pelo crescimento dos lucros no departamento de bens de consumo. Não ocorre qualquer transferência absoluta de lucros para salários. Kalecki, op. cit., p. 93.
[29]Kalecki, op. cit, p.140.
[30]https://gmarx.fflch.usp.br/boletim-ano5-17
- Resumo
-
O texto aborda a organização econômica e política dos trinta anos gloriosos, suas causas e os motivos de seu fim na crise dos anos 1970, com a tese de que houve uma vaga revolucionária nesta década.
- Abstract
-
The text addresses the economic and political organization of the glorious thirty years, its causes, and the reasons for its end in the crisis of the 1970s, with the thesis that there was a revolutionary wave in that decade.
Comitê de Redação: Adriana Marinho, Clara Schuartz, Gilda Walther de Almeida Prado, Giovanna Herrera, Marcela Proença, Rosa Rosa Gomes.
Conselho Consultivo: Carlos Quadros, Dálete Fernandes, Felipe Lacerda, Fernando Ferreira, Frederico Bartz, Lincoln Secco, Marisa Deaecto, Osvaldo Coggiola, Patrícia Valim.
Publicação do GMARX (Grupo de Estudos de História e Economia Política) / FFLCH-USP
Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Sala H4. São Paulo/SP. CEP: 05508-000
E-mail: maboletim@usp.br

